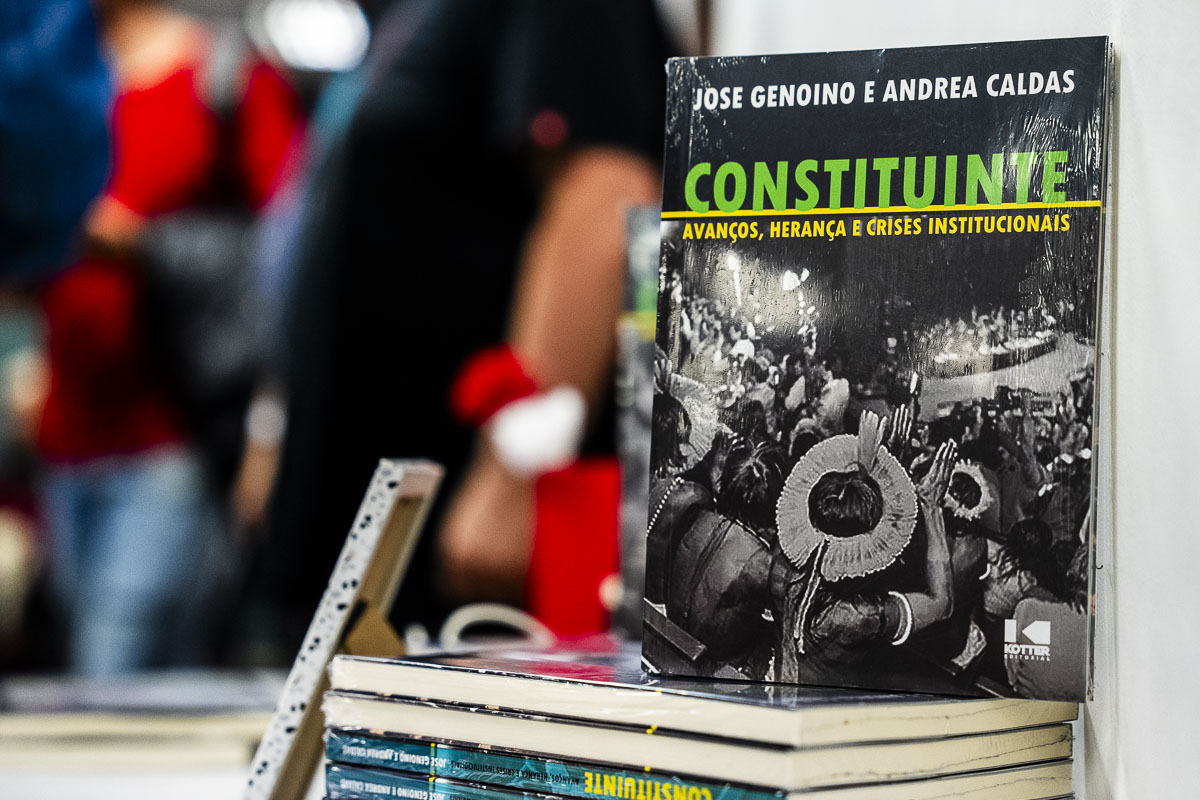Entrevista | Elisa Lucinda – “Uma novela com maioria preta? Estou vivendo um sonho, é uma colheita”
Sucesso em ‘Vai na fé’, a atriz, poetisa e escritora conta as mudanças na teledramaturgia, comenta o cenário de esperança que o país está vivendo desde janeiro e fala sobre projetos sociais. “Durmo agora com conforto emocional que me faltou nos últimos anos. Alguém está cuidando do país”, aponta

Você perguntou se eu tenho esperança? Eu não tenho esperança, estou vendo na prática”. Esta é apenas uma das frases que Elisa Lucinda, poeta, atriz e ativista dos direitos humanos, soltou entre gargalhadas em entrevista concedida à revista Focus Brasil. Apesar de ter vindo diretamente do velório do colega ator e dramaturgo Aderbal Freire Filho, Elisa recebeu a reportagem com bom humor e muita disposição para quem, como ela, está enfrentando uma maratona de entrevistas.
A razão dessa agenda cheia responde pelo nome de Dona Marlene, a personagem que Elisa encarnou na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo até a última semana – para se ter uma ideia, a reprise da madrugada teve mais público do que toda a grade do SBT.
Com 80% do elenco negro, inclusive o casal protagonista formado por Sheron Menezes e Samuel Assis, e com um fortíssimo núcleo evangélico, suburbano e feminino, a novela dirigida por Paulo Silvestrini e escrita por Rosane Svartman atingiu vários nervos da sensibilidade do público.
E Dona Marlene, a matriarca de uma família quase que exclusivamente formada por três gerações de mulheres, não apenas caiu nas graças daqueles que assistiram à novela. Foi também a oportunidade para que Elisa desenvolvesse uma personagem com uma jornada forte e delicada ao mesmo tempo. De início, uma sexagenária viúva enfiada em casa e na igreja, ela se libertou, abriu seu negócio e até voltou a namorar, ao passo que apresentou uma personagem evangélica em oposição ao imaginário que se centraliza no fundamentalismo religioso.
O êxito da novela, no entanto, não afastou Elisa de outras das suas numerosas atividades: poeta com vários livros publicados e ativista tanto na área da cultura — ela é fundadora da Casa Poema, dedicada à arte e à educação – como na da defesa dos direitos humanos, sobretudo à luta antirracista e feminista. Em Marlene, Elisa pode viver intensamente sua crença, mesmo sendo outra a sua religião – em sua casa, a atriz tem orixás e oferendas, além de plantas de estimação e proteção.
Atenta ao tempo, a artista acompanha firmemente a conjuntura política e faz parte do grupo de influenciadores formado para auxiliar o governo nas redes. “Vejo CPI como quem vai ao melhor filme em cartaz. Eu sou uma brasileira que sempre gostou de colaborar com os avanços do meu tempo e trabalho muito na micropolítica do cotidiano”, afirma. Leia a seguir os principais trechos da entrevista.
Focus Brasil — Você não fazia novela há alguns anos e agora retornou em uma produção que bateu recordes de audiência e conquistou o público. Estava nos seus planos retornar às telenovelas? Foi uma surpresa ou você esperava tanto sucesso?
Elisa Lucinda — Eu juro que quando recebi o convite, identifiquei imediatamente como colheita. Como colheita, porque quando eu vi que era uma novela que se propunha a ter 80% do elenco negro, eu falei ‘uai esse negócio aí eu sonhei, trabalhei para isso acontecer’. Eu sempre gostei de bons convites para o audiovisual, sempre considerei uma vitória, numa sociedade racista, quando um ator negro é convidado para fazer um bom papel. É uma vitória, porque a gente ficou restrito a papéis sempre subalternos, aquilo que a gente já sabe. Mas eu estranho um pouco quando as pessoas falam isso de voltar para a televisão. A televisão é um dos lugares onde a gente trabalha. Nos dois primeiros anos antes dessa novela, eu fiz acho que 10 filmes, sabe? Eu tinha criado um ‘plano B’ para o racismo dentro do nosso meio, que foi meu plano A. Eu sempre estou em cartaz, eu sempre estou publicando um livro, eu sempre estou fazendo um espetáculo de uma obra, de uma coisa de Adélia Prado, por exemplo, para não parar. Eu tenho meus projetos e boto eles em cena. Quando veio esse convite [para a novela], falei ‘Uau! Olha aí, tá chegando minha utopia”. Porque veio um pacote. Sabe? A Carolina Dieckman com um par preto, só isso já é diferente. É esse casal entrando na sala das pessoas. E na novela tem o Theo, da família branca, uma família, do ponto de vista afetivo, é uma família roída do ponto de vista afetivo, da textura daqueles espíritos ali é uma família desmoronada. E a nossa família era que era a família do corre, uma família riquíssima de amor e de não baixaria. Não aconteceu nenhuma baixaria dentro da casa da Marlene, ela não deixava. Então isso para mim é uma coisa que sonhei por muito tempo. Eu adorei ser convidada, com um respeito incrível pelo Paulo Silvestrini e pela Lu Moraes, que foi a caracterizadora que fez meu cabelo todo — todos os cabelos da Marlene foram referenciados na Viola Davis, nos personagens da Viola. Tinha esse quadro imenso na sala de caracterização, então é um cuidado. Tinha um cuidado imenso na novela, já sabia da alopecia [a personagem sofreu de alopecia, condição que causa perda de cabelo, que atinge em especial pessoas negras que passam anos alisando e utilizando produtos químicos para atender a padrões de beleza, outra questão abordada na novela com grande impacto] que peruca que ela ia usar se meu cabelo não estivesse como estava, na altura que a gente quis. Eu dediquei essa personagem a grandes atrizes que vieram antes de mim e que não tiveram oportunidade nem de ser mocinha como eu, a mocinha da novela, ainda bem que agora a gente pode ser mocinha mais velha né? [risos] Grandes atrizes negras passaram a vida perguntando “Mais café, doutor Jorge?”, “É para tirar o carro, dona Helena?”. Eu dediquei a Marlene a essas pessoas, por elas eu estou aqui, sabe. É bonito.
— Na reta final a novela chegou a bater a novela principal da grade da casa, “Terra e Paixão”. Você mencionou os personagens e o elenco negros, com revelações incríveis, como a Clara Moneke. Quais elementos contribuíram para o sucesso da novela?
— A genialidade de Rosane Svartman. Ela tem uma antena afinadíssima para a contemporaneidade, ela é muito sensível. A família dela é envolvida com o Nós do Morro [grupo de formação teatral criado no Vidigal em 1986], que gerou aqueles vários atores pro filme “Cidade de Deus” (2002). É um tema que já era sensível a ela e ela não foi nada arrogante. Tinha diretor negro na novela, tinha três roteiristas negros no seu grupo de roteiristas. Falando assim parece só um detalhe, mas o que acontece é antes tinha só branco escrevendo, só tinha a narrativa clássica, do ponto de vista do branco. Mesmo eu não sendo uma pessoa que tem uma história de vida na comunidade, de infância na favela, minha história é outra. Eu fui criada na classe média, meu pai tinha motorista, então é outra história, mas minha circulação é de uma mulher negra. Onde eu ando, sou a única mulher negra. A mulher negra do colégio, a mulher negra do prédio…. A mulher negra de vários encontros brancos e em vários círculos. Então, o que eu tenho para contar da vida não são as mesmas coisas que você tem para contar, mesmo que a gente seja de uma classe social, digamos, privilegiada. Por isso que faz diferença quando um preto é narrador. É nesse lugar que a novela ganhou. São detalhes que fizeram a diferença. Em tudo, até em coisas que já deviam ter no Brasil, como, por exemplo, dizer “Espera aí que vou fazer xixi, depois você me conta”. A coisa mais simples, mais real, mais brasileira, esses pequenos toques que tinha na novela. Detalhes encantadores de uma pegada muito coloquial. Essa é a pegada que Paulo Silvestrini queria e é a minha onda como intérprete, como atriz. O que eu gosto é disso, da precisão, da coloquialidade. Já faço isso com a poesia há muitos anos. E era muito confortável ter também um figurinista, um assistente de figurino preto, tudo isso mexeu no nosso visual. Mexeu porque é isso mesmo. Ou a gente faz isso ou vai ficando só a visão de uma bolha. Essa novela experimentou e ousou. Eu fiquei chocada de a novela falar de abuso sexual no horário das sete, de diversidade sexual, sabe, tinha dois casais homoafetivos, teve estupro de vulnerável. Foi um sucesso quando passou a cena em que a personagem entende que aquilo foi abuso. Isso libertou milhões de mulheres. Eu lembro que em casa eu vi chorando, eu já tinha lido a cena no capítulo, mas quando eu vi, chorei. Chorei fundo. Quantas histórias que eu conheço da menina que bebeu demais e fica depois culpada porque aconteceu uma merda e ela não lembra? Falar isso às sete horas… E para surpresa do Brasil encheu de marcas anunciando, algumas que nunca tinha visto anunciando em novela das sete. E foi uma loucura de faturamento! Eu fiz muitos, eu adorei. E tinha uma coisa interessante, o texto muito bom e a novela tinha uma pegada de realidade. Por exemplo, aquele Theo é um perigo, aquele vilão, ele é encantador, canta as músicas que a gente gosta, sabe as letras que a gente ama e ele é um manipulador.
— Sabemos de todo o sucesso, a representatividade, o fenômeno que foi a novela, mas ela não se encerra em si, ela quebra barreiras do audiovisual, como você mesma diz, e protagoniza o ator preto, a atriz preta, as personagens. Como você resumiria o impacto da novela na sociedade brasileira?
— A novela representou, sobretudo representou, mas imagina, eu fiz uma personagem evangélica e eu não tinha me dado conta de que existe uma Dona Marlene em cada esquina do país, que faz e vende quentinha se precisar. E aí eu comecei a olhar para essas mulheres e eu comecei a representar elas de alguma forma. Uma evangélica, o país super evangélico que nós estamos vivendo, então eu acho que é um conjunto de acertos que a novela tem. E outra coisa, a equipe de escritores, com a Renata Sofia, Pedro Alvarenga, Fabrício Santiago, Mario Viana e a Rosane Svartman [também integrou a equipe a roteirista Renata Corrêa], eles iam a passear no set de filmagens, aquela tropa dos autores ia muito no set, não era longe a sala, era do lado. Estavam com a gente e viam a cena que eles tinham escrito. Eu sou de uma época que havia uma mística em relação ao autor, vivia isolado. Lógico que é um conjunto de acertos. E outra coisa que encantava muito na novela foram os clipes. Todos os personagens cantando a mesma música, passa por todos os núcleos, acho uma ousadia incrível, encantadora. Eu acho que na história a gente vai poder provar melhor do que a gente tá tentando explicar agora, agora a história tá acontecendo, fica mais difícil de ver, mas eu acho que um país com 56% de preto, essa novela caiu de madura. E já era tempo. Sabe, ver os amigos meus que são Uber, que eu conheci, e as pessoas falam “olha, eu agora assumi um trabalho, mas de sete e meia às oito e meia eu quero ver a novela”, os caras começaram a ver novela. Outra coisa, foi um escândalo o horário de 1h30 da manhã, estou sem os números [a reprise da madrugada de Vai na Fé teve mais público do que toda a grade do SBT, segundo o Notícias da TV], mas foi uma raridade. Então, são vários fatores mesmo. O Paulo, diretor, maravilhoso, a Cristina Moura que é negra, foi nossa preparadora, é maravilhosa. Eu acho que deu um molho diverso que é o que a gente é, é o que brasileiro é, é do que a gente é composto e isso apareceu na obra.
— A mesma emissora começou a reapresentar a novela “Mulheres Apaixonadas”. E é curioso porque é uma novela de 2002, onde você também tem um papel interessante. Apesar de a novela tocar em alguns temas do cotidiano como violência contra a mulher, é, na minha avalição, uma novela elitista. Como é que você avalia as mudanças de mentalidade e de sensibilidade do público de lá para cá?
— É uma pergunta extremamente boa de responder, porque eu, nesses 20 anos também me ressignifiquei nesse lugar, mesmo sendo uma ativista, talvez por isso mesmo. Por exemplo, agora fui revisar o meu livro “Parem de falar mal da rotina”. Fiz uma segunda edição depois de 10 anos, a primeira teve uma tiragem de 20 mil exemplares e desapareceu das livrarias, mas aí teve uma confusão de contratos, eu encerrei meu contrato com a LeYa e o livro ficou parado. Há quatro anos, a Record comprou os direitos do livro e queria muito publicar, e propus que eu mesma fizesse uma revisão [o livro foi publicado pela Record em junho, em edição revista]. Nessa revisão, descobri coisas que eu mesma tirei, que me pareceram a mim… Eu me vi gordofóbica numa expressão que eu usei, tem palavras que não tinham na primeira versão, por exemplo, assédio e que agora tem. A gente sempre sofreu assédio, mas não tinha ou não usava a palavra assédio. Se saísse na noite e um homem passasse a mão no seu cabelo, era normal, assim, podia não gostar, mas a gente não reagia na época ou você podia brigar com o cara, mas não tinha para onde ir, acabava ali. O máximo que dava era uma briga entre os donos, entre as mulheres, os namorados, o marido. Tudo isso mudou muito. A cada hora a gente descobre uma camada do machismo. Ontem no salão de beleza com quatro mulheres, cada uma numa função, montando cabelo, contando histórias de que o marido chegou e trocou o nome da criança na hora de registrar. Eu conhecia essas histórias, mas nunca tinha juntado o autoritarismo a elas. É uma traição, é uma sacanagem sem tamanho: a mulher está lá, parturiente, tem o seu neném, combina como o seu filho vai chamar Magno, e o cara chega no cartório e bota Gabibol? Eu não sabia que era “epidêmico”, ou seja, é um comportamento que existe sistematicamente. Outra coisa que eu descobri nesses últimos 20 anos é esse negócio de chamar a pessoa de doida. Eu não percebia como uma ação da formação do machista. Depois que eu entendi que é quase um é um consenso, todos eles chamam a gente de doida, principalmente quando você está desconfiada que ele está com outra, ou qualquer outra coisa desse tipo. Meu feminismo foi descobrir que falam isso para qualquer menina, de qualquer idade, de menina a mulher velha. Ou a ameaça de é quem vai querer ficar com você: toda mulher conhece a história que é aquele cara quem vai te valorizar e aí te prender e manipular, mesmo que a relação esteja ruim. São novos caminhos. Nesses 20 anos, a gente aprendeu, melhorou, por isso que ficaram defasadas as histórias de “Mulheres Apaixonadas”… Não por que elas fossem ou não apaixonadas, mas todas estavam em relações muito ruins, né? O José Mayer como galã irresistível, mais velho: uma mulher não estaria naquela posição. Ainda tem uma questão muito forte de etarismo com o feminino. A própria Lei Maria da Penha evoluiu muito: não é hipérbole da minha parte, o Alexandre de Moraes e mais a turma lá do STF proibiram o uso da legítima defesa da honra… Confesso que achei que isso não existia mais, para mim era obsoleto. Havia uma atitude de costumes nesse feminicídio todo, mas eu não sabia que ainda havia amparo legal. A nova geração de mulheres vem muito dona do seu corpo. Elas sabem as marcas dos melhores brinquedos sexuais, mesmo tendo uma vida sexual ativa, alegre e feliz, mas tem uma coisa do autoconhecimento, de autovalorização. Tem uma coisa nova acontecendo, que a gente não está ainda enxergando direito tudo o que está acontecendo, mas assim que passar a gente vai entender melhor. Para mim, é um novo tempo. E também do ponto de vista do antirracismo. Nunca vi esse assunto ser tão bem escutado pelos meus amigos brancos intelectuais e pela população em geral. Eu falo disso há muitos anos, mas nunca vi um ouvido tão aberto como hoje. As pessoas também não estão querendo errar, estão descobrindo seu racismo. Sempre convido meus amigos brancos a revisitar esses lugares, porque o mundo todo avançou e nós, mesmo no Brasil, nossa consciência nesse lugar avançou muito. Sei lá, eu sou meio poliana, então eu tenho sempre uma altíssima reserva de esperança.
— Você mesmo chegou a chamá-la de um marco, de um novo paradigma para a telenovela. E veio no ano que um novo governo assume, substituindo um governo autoritário, cercado de escândalos. A gente pode sonhar de novo?
— Eu não tenho dúvida nenhuma. Durmo agora com conforto emocional que me faltou nos últimos anos. Alguém está cuidando do país. Já abaixou a carne, já está uma vida mais viável. Tem um cara ocupado com o país. Lula é um bicho de política, mas é, sobretudo, um cara extremamente patriota — ele, sim. Muito focado estrategicamente em reconstruir a união, reconstruir o país. Ele começou bem, viajou muito para reconectar o Brasil ao mundo, porque o Brasil tinha virado um pária: o Brasil era um cara sem máscara em plena pandemia comendo pizza na rua. O Lula não, ele foi organizar o jogo lá fora para a gente ter estrada para ir e também está botando ordem aqui dentro ao mesmo tempo. A PF voltar a ser a PF de novo, independente, a mesma PF que investigou o próprio Lula, ninguém pode esquecer disso. Tem então toda uma felicidade que eu tô adorando. Vejo CPI como quem vai no melhor filme em cartaz. Você perguntou se eu tenho esperança? Eu não tenho esperança, estou vendo na prática. A Margareth Menezes entrou muito bem, Silvio Almeida também, eu estive com os três, inclusive. Tenho participado, de alguma maneira, de fora, sou do grupo de influenciadores digitais, a gente terá uma reunião aqui no Rio em breve. Eu sou uma brasileira que sempre gostou de colaborar com os avanços do meu tempo e trabalho muito na micropolítica do cotidiano. Eu nunca fui filiada a partido nenhum, mas há muitos anos eu tenho uma parceria com o PT, que é o partido que está sempre mais perto da minha ideologia. Eu sou de esquerda. O que eu quero dizer é que um governo que se pode dar uma sugestão, você pode chegar lá e ser escutado. Tem lá também um cara que adoro, o Fabiano Piuba, que que é o Secretário do Livro e da Leitura, maravilhoso, trabalhou com Camilo Santana. Você volta a ver gente boa, não é um governo cheio de militar. É cheio de gente competente nos lugares certos. Apesar do esquema de trocas que tem que ter, de cargos e partidos. A gente conseguiu avançar na saúde, que não tinha, estamos cheios de editais, que haviam sumido. Tem uma parceria do Ministério da Cultura com a Educação, que era minha utopia. Vai ter teatro, dança e música nas escolas públicas. Isso para mim é a melhor notícia — o teatro me ensinou tudo. E educação musical: quando você faz isso, você faz uma inclusão. Por que que o cara só vai tocar em orquestra se for do Leblon? Por que que só vai aprender balé se tiver dinheiro? Isso é uma exclusão de conteúdo por conteúdo, o que o capitalismo associado ao racismo faz. Você aí você pega um cara que estuda numa escola pública e não sabe nada ou um cara que aos 14 anos tem que deixar a escola, atravessar a cidade de noite porque tem que trabalhar de dia para sustentar os irmãos. E aí tem um outro menino, seu similar rico que tem 14 anos e está escolhendo onde vai ser seu intercâmbio. Quem vai fazer essa justiça é política pública. Enfim, eu estou muita notícia boa. A gente respira de novo.
— Você tem uma trajetória de ativismo cultural e político muito forte. Há anos você trabalha, por exemplo, com a Organização Internacional do Trabalho. Conta pra gente um pouco qual foi esse seu caminho no ativismo.
— Eu venho de uma família que sempre defendeu a educação. Meu pai era um cara muito diferenciado e fez uma ascensão social e econômica da família. Filho de operários falando: “Lá em casa vai ser todo mundo intelectual, que esse vai ser o passaporte”. A educação é o passaporte dos negros, ele tinha essa ideia. Todos os cinco filhos fizemos universidade pública, passamos todos bem colocadíssimos: tem médico, engenheiro, psicanalista, outro advogado. Meu pai, depois que se casou, se formou em advocacia e fez uma carreira linda, virou superintendente da Vale do Rio Doce. Na minha casa se discutia política e se praticava política: não podia dar de comer nada na frente de ninguém sem oferecer; se eu estou comendo pão com café, chegou alguém eu tenho que oferecer. Principalmente se fosse um alguém que estivesse prestando um serviço, não podia tratar mal de jeito nenhum, a ninguém, principalmente o empregado. Não podia chegar em casa com nada que não tivesse procedência não explicada e olhe lá, muitas vezes tinha que devolver. “Por que o professor te deu esse apontador? Você já tem o seu”. A gente tinha, naquela casa no subúrbio lá em Itaquari, Espírito Santo [distrito do município de Cariacica], nos arredores da grande Vitória, era, por exemplo, a casa que tinha e ele te dava o número da casa pro povo deixar recado, pra todo mundo usar. Quando eu dizia: “adoro quando chove, esse baruhinho da chuva”, ele falava, “pois é, minha filha, mas tem gente que não tem casa, que mora no barraco e tá todo furado o teto”. Tinha consciência social. Essa visão da sociedade-comunidade só depois eu soube, eu não sabia que isso era ser de esquerda. Era para mim uma visão amorosa do mundo. Meu pai era ateu, mas gostava de Jesus. Cristo filósofo vivo que brigou com Roma. E a igreja dele hoje virou um negócio, tem até banco. Como que a igreja de Pedro virou isso? Meu pai falava, como que a igreja de Pedro, que era o pescador, virou Vaticano? Então, fui criada com esses pensamentos, e você nem nota. Minha casa também era muito musical: minha mãe cantava, tocava muito. Tive aulas de poesia, com uma professora linda, minha querida Maria Firmino a quem eu chamo de mãe da minha poesia, muito lúcida. Minha mãe me levou para uma declamação de poesia lá em Vitória quando eu tinha 11 anos e me deixou com ela. Toda semana, eu tinha aula na casa dela e ela me apresentou a biblioteca dela, a biblioteca do céu: tinha Fernando Pessoa, Mario Quintana, os modernistas todos. E ela falou: essa biblioteca aqui toda, que é minha, é sua se você quiser, pode ler o que quiser. Ela me fez chegar aos 17 anos sabendo 30 poemas de cor do Drummond, mais outros tantos de Manuel Bandeira, da Cecília Meirelles, que eu sei até hoje, Olavo Bilac… Quando eu cheguei no Rio, já me associei ao movimento negro dentro da universidade, já fui para as disputas do diretório acadêmico. Chamavam meu grupo de esquerda festiva, porque a gente ria, e a esquerda àquela época era mais sisuda, parecia falta de seriedade. Fui me descobrindo melhor quando estive na universidade. Meu cabelo, antes eu alisava o cabelo, o que era uma contradição, mas que eu entendo hoje. Quando eu me tornei black power, eu achei que era uma contradição com aquilo que eu já vivia, já que meu pai era um quilombola, mas acontece que havia outro paradigma estético à época: hoje percebo que aquele cabelo alisado da minha mãe, meu pai muito alinhado sempre, usava linho mesmo, era um jeito de eles se protegerem do racismo. Um cabelo black só quem usava era mendigo da rua. E aquilo protegia a gente; olha, eles são limpinhos, são bem cuidados, são bonitos, são chiques, elegantes. Dá até para dizer que era a forma de ser antirracista daquela época. Minha mãe era uma datilógrafa, no primeiro momento e depois ela virou professora de yoga, mas, quando era solteira, como ia conseguir emprego de cabelo crespo? Isso foi muito real, parece irreal hoje em dia, mas era assim. Teve essa construção, mas tudo em cima dessa educação revolucionária. Eu acho que meu pai era comunista também, era um cara ligado ao grupo socialista, ao grupo do Brizola. Quando teve a ditadura, eu lembro do meu pai queimando livros de noite no quintal, então a sua vida vai indo por um caminho de onde você olha o mundo, sabe? É isso.
— Nesse tempo de urgência, de loucura digital que a gente se meteu depois da pandemia, falamos por vídeo, estamos sempre no celular… Onde fica a poesia nessa urgência toda?
— Olha, essa não é uma questão para mim. Escrevo muita coisa pelo celular e muita coisa eu aproveito mesmo. Escrevo o tempo todo, e muitas vezes eu não posso fotografar, porque o meu celular está, sei lá, descarregado ou porque não está comigo e aí eu escrevo aquele poema, fotografo com a palavra. E eu adoro fazer isso. Meu celular hoje é o maior lugar onde mais tenho poesias escritas. Se você abrir meu bloco de notas, deve ter umas 800 notas das quais 90% são poemas. Com essa história de eu ter sido exposta à poesia muito cedo, aprendi que esse era um jeito de olhar a vida, uma lente. Comecei a escrever cedo, com 17, 18 anos. Eu tenho uma dinâmica assim: se se algo está me incomodando, eu escrevo, para poder entender. Quando eu ponho no papel, aquilo parece que faz um mapa e eu entendo melhor. Nem tudo eu publico, mas eu escrevo. Ou seja, as telas não afetaram a minha escrita, pelo contrário. É uma merda que esteja todo mundo tão dependente do celular o tempo inteiro e preso ali conectado o tempo inteiro, é verdade, mas, por outro lado, nunca se escreveu tanto. Escrevemos o tempo todo, se digita, digita, digitamos as nossas conversas e talvez isso signifique que esteja acontecendo até o nascimento de vários escritores. Entendem que minha poliana não tem limites? Vejo que pode existir essa saída, porque minha poesia não sofre por isso. Eu escrevo, eu não tenho sacrifício. Para mim, escrever, aliás, talvez seja a coisa mais inteligente que eu fiz na minha vida. Todo o dinheiro que eu ganho, vem de coisas que eu amo fazer, o que eu faria de graça, ainda me pagam. Aqui não tem nada que eu faça que eu não goste. Adoro dar aula de poesia falada, adoro fazer os trabalhos que eu faço com a OIT, que eu amo, que é dar aula para gente excluída, morador de rua, gente trans, tão excluídos que muitos são expulsos de casa… Eu tenho muita honra de ter a Casa Poema, essa instituição que é parceira da OIT em vários projetos com o Ministério Público do Trabalho.
— O aluno que aprende a ouvir sua voz e aprende a expressar sua voz, ele vai longe…
— A partir do encontro com você, o aluno descobre essa chave, e aí pronto, está cumprido o papel. Eu ontem encontrei uma amiga antes de entrar no Criança Esperança, a atriz Alice Wegman – eu dei aula online para os atores da Globo na pandemia, um curso de poesia falada. Ela disse: “Você me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer, aquilo me salvou. Você falou que o ator tem que saber quem ele é o mais rápido possível para que ele possa voltar quando acaba um personagem”. É que é um prazer quando um aluno te dá um feedback desse. Acho que essa sabedoria de ter trazido a minha vida toda para o meu querer, até o jornalismo que eu fiz eu não abandono, gosto de escrever meus artigos, cuido da minha carreira junto com a minha equipe, eu não sou uma aquela atriz mimada que não sabe fazer um check-in, com todo respeito, sem querer agredir ninguém, não é isso. É que eu, Elisa, gosto de todas as etapas do meu ofício. É o que mais quero. O dinheiro da minha casa, ele veio da minha poesia, do meu canto, da minha interpretação, da minha aula, isso tudo é lícito, isso tudo é uma habilidade que eu tenho inclinação para fazer, então flui de outro jeito. O Brasil tem um problema muito grande de escalação: você tem um cara que vai fazer medicina porque o pai é médico e já tem só até o consultório montado, mas ele queria ser DJ. E aí dá nesse estrago, em todos os setores, de se afastar da sua inclinação para fazer o que dá mais dinheiro. E isso é uma grande falha trágica. •