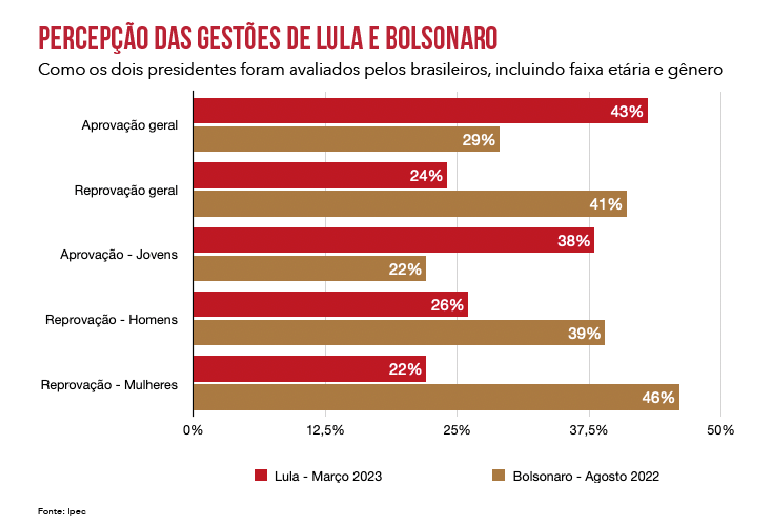As aventuras do R.E.M.
Do murmúrio ao colapso, eis a banda norte-americana que fez mais pela música pop e pelo indie do que mais da metade dos grupos de rock. Disco de estreia do grupo completa 40 anos


Athens nem sequer é capital do estado da Geórgia. É uma cidade branca, universitária, encravada neste estado do sul profundo, tão imerso nas tradições do blues, do soul e do country que seu nome está no título de pelo menos duas canções clássicas: “Georgia on My Mind”, de Ray Charles, e “Midnight Train to Georgia”, de Gladys Knight and The Pips. No final dos anos 1980, a cidade seria catapultada à condição de capital das “college bands”, graças ao R.E.M., um grupo de nerds que se formou no entorno da universidade.
O R.E.M. foi, de alguma forma, o protótipo do indie norte-americano. Começou como uma outra banda qualquer, um grupo de amigos com gostos musicais em comum que se reuniam para fazer um som. Formado por Michael Stipe, Peter Buck, Bill Berry e Mike Mills, o grupo percorreu um longo caminho de shows e apresentações entre pequenas e médias.
Cresceu no boca-a-boca, gravou e vendeu muitos discos e ficou enorme. Ainda assim, tentou manter sua “integridade” musical e política mesmo quando era considerada “a maior banda de rock dos EUA” e a palavra integridade quase não fazia sentido no mundo pop. E, ainda assim, acabou sem parar nas páginas policiais.
Aos 19 anos, Michael Stipe estudava fotografia e pintura na Universidade da Geórgia e costumava frequentar a loja de discos onde o guitarrista Peter Buck trabalhava. Ambos partilhavam da mesma paixão pela cena pré-punk e punk novaiorquina do final dos anos 1970 e começaram a compor juntos. Stipe, no vocal, e Buck, na guitarra. Só faltava a “cozinha”, que encontraram no baterista Bill Berry e na baixista Mike Mills, também estudantes da mesma universidade de Stipe.
O primeiro single, “Radio Free Europe”, uma canção com bastante influência new wave — Athens também foi berço do B-52’s, a banda mais representativa do estilo —, foi gravado de forma independente, num dos vários microsselos que abundavam à época, mas tornou-se sucesso quase instantâneo na rádio da universidade e percorreu outros campi do circuito universitário — daí o termo “college radio”.
Embalados pelo sucesso de suas apresentações ao vivo, o grupo assinou com a IRS para lançar o primeiro EP “Chronic Town”, em 1982. O disco foi elogiadíssimo pelo semanário inglês New Musical Express, o que, à época, equivalia um carimbo de credibilidade. Dali para gravar o primeiro LP inteiro foi uma questão de meses.
A partir de “Murmur”, o R.E.M. já veio com uma identidade toda torta. Sim, era uma banda norte-americana com guitarra pesada e volumosa, mas que percutia o baixo e a bateria como o melhor do pós-punk inglês contemporâneo. Como se fosse a contraparte redneck, caipira, dos Smiths. A banda tinha letras incrivelmente sensíveis sob uma sonoridade angulosa e intensa.
E, ao contrário de Morrissey, Michael Stipe era um frontman tímido e contido, mas como Stipe & Buck, como a dupla Morrissey-Johnny Marr, jogavam de forma performática com suas identidades e ambiguidades.
A julgar pelo entusiasmo da revista “Rolling Stone”, que alçou o disco ao primeiro lugar de sua famosíssima lista de melhores do ano, deixando concorrentes veteranos como Michael Jackson (“Thriller”), The Police (“Synchronicity”) e U2 (“War”) no chinelo, o R.E.M. era tudo o que a América precisava para acertar o passo musical com a Inglaterra, nesse momento ditando as regras de o que era música nova e interessante.
O crítico e VJ Daniel Benevides assim definiria a receita: “A primeira vez que se ouve R.E.M., a sensação é quase sempre de estranhamento. Como uma banda pode soar tão pop e tão esquisita no espaço estreito de uma música? Como pode estar no mainstream e no underground ao mesmo tempo?”, escreveu, em artigo publicado em 1997, na revista Bizz.
Do álbum de estreia à condição de uma das bandas que definiu a década de 1990, o R.E.M. parecia estar ao mesmo tempo escrevendo e aplicando sua própria cartilha indie. O termo, que deriva da palavra “independente” em inglês, era usado inicialmente para caracterizar um modo de gravar e lançar discos. Acabou definindo um gênero musical onde cabiam muitos estilos diferentes, inclusive de bandas com uma originalidade tão flagrante como a do R.E.M..
Disciplinados, os caras seguiram compondo, produzindo, gravando e se apresentando à razão de um disco por ano até 1988. Idiossincráticos, não davam passos maiores que as pernas e continuavam percorrendo o circuito universitário, independente, alternativo nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Discretos com suas vidas pessoais, não apareciam em colunas de celebridades. Afáveis com fãs e tolerantes com jornalistas, também não pagavam de arrogantes.
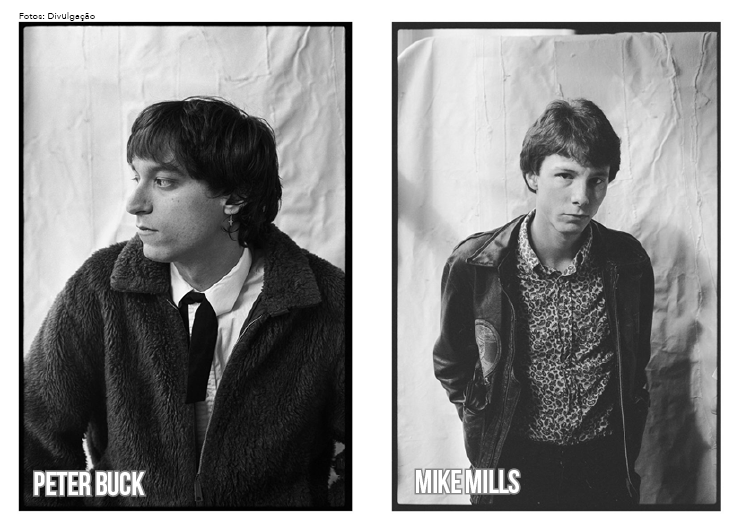
Ao contrário, os quatro pareciam apenas os mesmos garotos entusiasmados que tocavam juntos em Athens. No entanto, a partir de “Document” (1987), o R.E.M. estava mudando muito rapidamente de lugar no cenário pop. Duas das faixas do disco, “The One I Love” e “It’s The End of the World As We Know It (And I Feel Fine)”, se tornariam sucessos transnacionais devido às paradas da MTV.
O apuro visual das capas e encartes tinha migrado para os videoclipes que, na virada para a década de 1990, se transformariam também em campo de experimentação e invenção para uma geração de novos artistas do audiovisual.
No disco seguinte, “Green” (1988), Stipe resolve revelar uma persona mais ativista, escrevendo letras críticas às guerras imperialistas americanas em “World Leader Pretender” e “Orange Crush”, mostrando apoio a causas ambientais e performando ao vivo com camisetas-slogan.
A dobradinha republicana na presidência que dominou quase toda a década de 1980 nos Estados Unidos, Ronald Reagan e George Bush, estava ainda longe de sair do poder, e a América entraria na década seguinte indo fazer a primeira Guerra do Golfo. O ativismo pacifista e anti-guerra do R.E.M. falava para audiências cada vez maiores.
Se nos anos 1980 a credibilidade era a palavra chave, os 1990 — ou sua melhor parte — veriam florescer a diversidade na música pop. O rock ainda importava, é claro, tanto que os EUA viveriam os anos do grunge com Nirvana, Soundgarden e outros grupos, mas havia muitos cenários tão excitantes quanto, com as novas músicas eletrônicas nas pistas, as batidas e rimas do rap e do hip hop que saíam do gueto e, por conta da popularidade da MTV em várias parte do globo.
E aqui e ali despontavam cenas interessantes e com novas sonoridades que cabiam no rótulo vale-tudo de “world music”. Paradoxalmente, tudo isso era um prato cheio para uma banda solidamente enraizada na tradição, com uma sensibilidade toda particular para as tendências como o R.E.M..
Depois de três anos, Stipe, Buck, Berry e Mills lançariam “Out of Time”, desta vez com a gravadora Warner. Àquela altura, a troca equivalia a deixar de andar no passo lento de uma maria-fumaça e embarcar em um trem de alta velocidade no mundo fonográfico.
Com um clipe provocante e enigmático, “Losing My Religion” — uma canção sobre o desencontro amoroso disfarçado de uma crise de fé existência —, mantinha aquele balanço entre a popice e esquisitice que o R.E.M. sempre soube preservar e, ainda assim (ou exatamente por isso), virou o maior hit da carreira do R.E.M.
Mesmo com o lugar de estrela do indie assegurado, o R.E.M. não se acomodou. “Automatic For The People”, o disco quase conceitual de 1992, mostra a potência de uma banda no controle de sua capacidade criativa em 12 faixas memoráveis, incluindo a que talvez seja maior canção de dor de cotovelo em língua inglesa, “Everybody Hurts”.
Em “Monster” (1994) e “New Adventures in Hi-Fi” (1996), o R.E.M. continuou explorando sua habilidade enorme em costurar suas influências e parcerias diversas, ao mesmo tempo que o quarteto soava único e ainda muito vibrante. Em 1997, o grupo se quebrou, com a saída mais ou menos silenciosa (ou não dramática) do baterista Bill Berry. A banda prosseguiria com o trio original, mas dali por diante, Stipe estaria ainda mais sobre os holofotes, seja como popstar e letrista talentoso, seja como figura pública.
Ele dá uma guinada pessoal e musical, arrastando a banda atrás de si. “Up” (1998) e “Reveal” (2001), de certa forma, mostram o fascínio de Stipe com o novo cenário eletrônico. Sem deixar as raízes de lado, o cantor e compositor que começou a passar cada vez mais tempo em Berlim na primeira década dos anos 2000 e a frequentar os clubes berlinenses, sabia que as coisas interessantes, de novo, estavam acontecendo por lá.
A esta altura, com todos os integrantes do R.E.M. perto dos 50 anos, Stipe farejava um novo novo e, mesmo que os resultados por vezes soassem canhestros ou decadentes, a inquietude de fazer rock sem soar mais do mesmo ainda movia o artista.
Os dois últimos álbuns são discos de despedidas anunciadas. Era para “Accelerate” (2008) ser o último, inclusive por conta da participação de Bill Berry, mas três anos depois, eles ainda lançariam o “Collapse Into Now”, um impressionante tour de force.
O álbum traz um punhado de canções poderosas de amor em seu sentido grande — pelos encontros casuais com garotos na noite berlinense, pelas cidades grandes e pela humanidade vista a rés do chão, apressada no metrô, nas ruas e em sua solidão.
“Collapse Into Now” tem mais ou menos a mesma potência que os últimos discos de David Bowie (“Blackstar”) e Leonard Cohen (“You Want It Darker”), ambos de 2016 e ídolos de Stipe, com a diferença fundamental que Cohen e Bowie, de alguma forma, sabiam que iam morrer — e Stipe apenas “matou” sua banda de juventude, mas ainda segue por aí, vivo. •