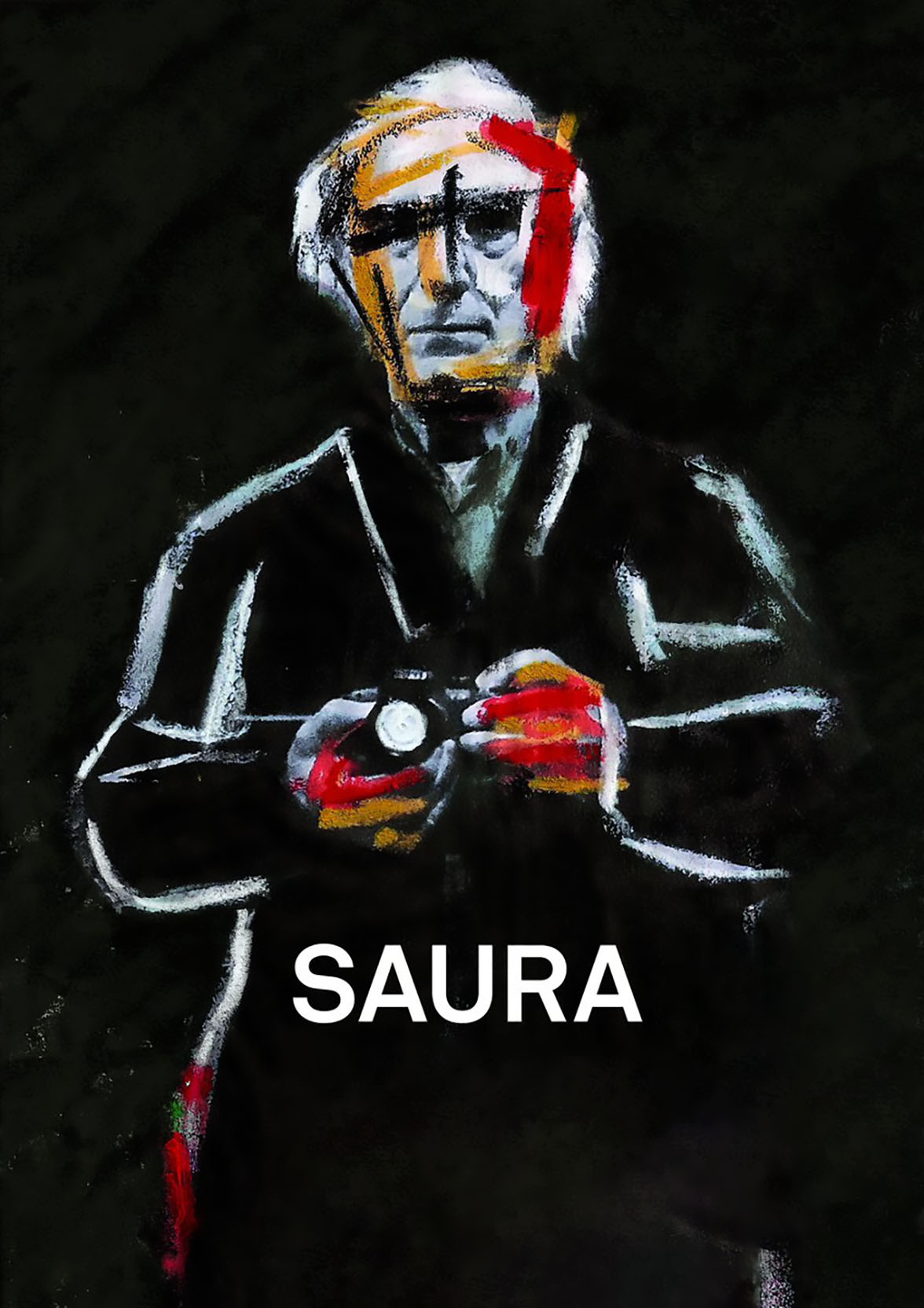Desenvolvimento sustentável e cooperação internacional
A Amazônia precisa de um plano de desenvolvimento regional o mais amplo possível, que tenha como princípio norteador, mas não único, a expansão de uma economia da sociobiodiversidade

A COP 27 no Egito, ocorrida em novembro passado, não foi um avanço inequívoco na luta contra a emergência climática. Por um lado, os interesses contrários à descarbonização do sistema energético venceram ao barrar novo compromisso genérico de eliminar gradativamente o uso de gases de efeito-estufa em futuro longínquo, além de moderar o compromisso existente relativo ao carvão.
Por outro lado, as nações que enriqueceram com uso de combustíveis fosseis desde a Revolução Industrial finalmente aceitaram contribuir, um dia, para um fundo compensando “perdas e danos” das populações pobres que habitam territórios já dominados por impérios europeus, mas que nada ou quase nada contribuíram para a emergência climática que os afeta com muito mais severidade. No entanto, os países ricos rejeitam qualquer responsabilidade formal de indenização pelo problema histórico das emissões acumuladas na atmosfera.
Tampouco aceitam compensar os menos pobres entre os países que há 200 anos escaparam da condição colonial para se tornarem mercados de exportações industriais que, por décadas, se concentraram nas antigas metrópoles imperiais. Ao contrário, pedem que países como o Brasil contribuam para o fundo, enquanto arcam por si próprios com enchentes, de um lado, e processos de desertificação, de outro. Esquecem que as secas nordestinas são um dos primeiros efeitos ecológicos não só da expansão colonial europeia, como também da Revolução Industrial, como o grande historiador Mike Davis (1946-2022) explicou em páginas brilhantes.
É por isso que o otimismo com tal avanço na COP 27 deve ser cauteloso. Como o presidente Lula alertou em sua participação na COP, os países ricos prometeram há mais de 10 anos contribuir US$ 100 bilhões por ano, a partir de 2020, para mitigar um problema que não admitem ter causado, mas em três anos desde 2020 só entregaram pedidos de adiamento.
Quanto à Amazônia, o cenário para a cooperação internacional parece ser diferente. Em pé, a Amazônia sozinha não impede o risco de mudança climática catastrófica. Contudo, se o desflorestamento ultrapassar um ponto de não-retorno, sem ela é muito difícil evitar a catástrofe. É claro que os primeiros a sofrer serão os amazônidas com todos os brasileiros, pois se a Amazônia não é o pulmão do mundo, é pelo menos a caixa d’água da América do Sul e também o maior reservatório de biodiversidade do planeta.
Neste sentido, se por um lado não há soja, para não falar do resto da agropecuária, sem os rios voadores da floresta; por outro, também não há economia regional amazônica sem a floresta, os rios, as chuvas e a biodiversidade existentes na região. A segurança alimentar e hídrica brasileira, assim como a base da sociobiodiversidade que sustenta parte significativa da economia regional de base primária da Amazônia, não existiria, portanto, sem a floresta e o bioma por inteiro (“em pé”), por mais que os currículos das escolas (principalmente as militares) insistam em subestimar a questão.
Neste contexto, a centralidade da Amazônia para a mudança climática e até para a geopolítica mundial, se alia às reflexões e debates sobre a necessidade de construção de estratégias e modelos alternativos de desenvolvimento sustentável para a região. Em parte, essas convergências talvez expliquem por que a cooperação internacional, nesse caso, é acompanhada de aporte financeiro significativo.
A simples vitória eleitoral de Lula já induziu a Alemanha a oferecer mais recursos. Na posse de Lula, o presidente alemão trouxe o anúncio de contribuição de cerca de 200 milhões de euros para o Fundo Amazônia, reinstituído em um dos primeiros atos do novo governo. Considerada a nova contribuição alemã, o fundo terá um saldo em caixa de cerca de R$ 4,4 bilhões, dos quais quase R$ 3,4 bilhões foram doados pela Noruega. Há rumores que o fundo poderá contar com a participação de novos países em breve, como os Estados Unidos.
O governo federal e o Consórcio Amazônia Legal de governadores buscarão reforçar a cooperação internacional com novos parceiros, atraindo mais recursos. Talvez com o objetivo de fortalecimento de estratégias de desenvolvimento regional que sejam mais condizentes com as condições de preservação das florestas e do bioma amazônico. Nossa floresta tropical ficará ainda mais no centro da atenção e, se possível, da cooperação internacional para o desenvolvimento da região, caso a COP30 seja realizada na Amazônia em 2025, como demandado publicamente pelo presidente Lula.
Isso suscita reflexão. Quais prioridades devem orientar a destinação de recursos vinculados à cooperação internacional? Para os governos doadores, a prioridade é certamente a de manter a floresta em pé a qualquer custo, pois sem isso ela não pode contribuir para absorver CO2.
Se o mercado de carbono prosperar e não se limitar à “maquiagem verde”, ele também não tem sentido sem a preservação da floresta em pé. Da mesma forma, e por outro lado, não faz sentido para as populações que hoje vivem na Amazônia, assim como para os políticos que as representam, renunciar a suas estratégias de aprendizado secular em manejo sustentável dos recursos da biodiversidade, em troca de uma estratégia de isolamento da floresta em relação à ação humana (como defendido por parte dos ambientalistas).
Da mesma forma como não faz sentido para muitos a expansão indiscriminada de atividades predatórias que enriquecem poucos e limitam a capacidade futura de reprodução social de muitos — como está na raiz do modelo bolsonarista recentemente derrotado nas urnas.

Com uma visão alternativa a esses dois modelos, produzir e preservar são palavras que andam juntas para a maioria da população regional. Interessa a elas, por isso, um projeto alternativo de desenvolvimento que olhe, sim, para o futuro da Amazônia, mas sem perder de vista a sua capacidade de aprender com o seu passado de preservação. Afinal de contas, a floresta que está aí, preservada, foi e será sempre – como nos dizem os estudos mais recentes de arqueólogos, antropólogos e ecologistas políticos contemporâneos – o resultado histórico da ação de suas populações interagindo de maneira produtiva e evolutiva com o bioma amazônico.
Apesar disso, mundialmente, a floresta em pé é ainda, às vezes, confundida com a imagem de uma mata virgem, intocada pela ocupação ocidental, quando muito habitada por povos ancestrais erroneamente vistos como caçadores e coletores, por quem não conhece a mandioca e o manejo indígena de árvores frutíferas. Contudo, há séculos a floresta é mantida em pé em várias áreas de ocupação camponesa e ribeirinha, quilombola ou não, em cooperativa ou não, que se combinam com a sabedoria ancestral, mas que são impensáveis sem a herança europeia e africana.
Essa zona de miscigenação cultural depende da floresta em pé, mas convive há séculos com o mercado urbano, seja o de verdadeiras metrópoles como Manaus ou Belém, seja o de vilas como Alter do Chão ou Uiramutã, ou cidades médias como Macapá e Parintins.
A economia monetária, por um lado, muitas vezes apenas absorve excedentes da produção para autoconsumo. Mas, por outro, também, se integra a economia-mundo e aos diversos mercados locais e regionais, com o objetivo de abastecimento tanto de nichos de mercados de produtos específicos — com alguma valorização no seu preço de mercado, devido à sua especificidade —, quanto para a produção e venda de produtos genéricos em grande escala para o abastecimento dos mercados de commodities globais, a um baixo preço unitário.
São estas várias facetas, alternativas e contradições que estimulam tensões e disputas que se traduzem em trajetórias tecnoprodutivas mais ou menos aderentes à preservação ou não da floresta e do bioma amazônico.
Neste sentido, o que a Amazônia precisa é de um plano de desenvolvimento regional o mais amplo possível, e que tenha como princípio norteador, mas não único, a expansão de uma economia da sociobiodiversidade da região.
Uma estratégia que garanta o crescimento de sua economia em condições, e escala, compatíveis minimamente com a preservação da diversidade do bioma. O que implica em uma estratégia prioritária de superação da lógica hegemônica da especialização produtiva e da monocultura, associadas a uma estratégia de contenção da ampliação do mercado privado de terras para fins de especulação fundiária.
Neste contexto, a importância e relevância da economia regional amazônica, com toda a sua complexidade atual, não deve e nem pode ser negligenciada. Uma economia que sustenta cerca de 20 milhões de habitantes, com parcela significativa de sua população localizada em grandes e médios centros urbanos, está longe de ser uma terra desabitada.
Para continuar se desenvolvendo e preservando a floresta, essa economia não precisa apenas de pacotes tecnológicos de alto impacto trazidos de fora, nem somente de grandes programas de apoio filantrópicos para fins de combate à pobreza.
O que precisamos é da valorização efetiva de estratégias de desenvolvimento regional que estimulem a reprodução, ampliação e difusão dos conhecimentos científicos e tradicionais, combinados a um amplo programa de fomento às atividades econômicas baseados em princípios de diversidade e diversificação.
De uma maneira geral, portanto, a imagem do futuro dos municípios amazônidas como polos da química fina e da biotecnologia avançada com base na diversidade ecológica não é generalizável a ponto de transformá-la em modelo de desenvolvimento regional.
A California é muito menor que a Amazônia, e o Vale do Silício é uma pequena parte dela onde convivem as mansões de Berkeley Hills, os arranha-céus e os mendigos de São Francisco com os quase-cortiços abarrotados de alunos da UC Berkeley. Boston ou Cambridge tampouco descrevem Massachussets.
Qualquer polo de desenvolvimento associado à fronteira tecnológica combina polarização urbana, concentração de renda e exclusão habitacional, exceto que os lucros sejam fortemente taxados para financiar infraestrutura coletiva e gasto social. A despeito de seu potencial de geração de riqueza, não se apresenta como solução para a totalidade do bioma.
É compreensível o medo de repetir o “ciclo” da borracha e o preconceito contra as potencialidades endógenas de construção de alternativas tecnológicas de baixo impacto para o desenvolvimento da economia regional.
Contudo, às vezes se esquece que variantes alternativas da bioeconomia biotecnológica, em diferentes escalas, já foram implementadas na Amazônia ao longo do século 20, sem sucesso: ou na sua etapa ainda de validação política — como a criação do Instituto Hiléia e a proposta de construção de um grande lago na Amazônia —; ou por sua incapacidade de construir condições objetivas consideradas minimamente aderentes em relação à realidade da economia e da sociedade regional.
Um pouco antes, ainda no final do século 19, a biopirataria britânica para a plantation malaia interrompeu a bonança muito antes da borracha sintética aparecer como alternativa ao modelo extrativista voltado para a comoditização da borracha, modelo ainda bastante estimulado no período da segunda guerra mundial.
O que derrubou o extrativismo da borracha, portanto, não foi a produção sintética, mas a monocultura e a plantation na Malásia. Se olharmos o atual contexto de expansão dos produtos florestais não madeireiros na Amazônia, podemos por paralelo afirmar que a maior ameaça continua sendo a sua expansão em forma de monocultura.
O problema é que aumentar a escala por aumentar a escala, como um fim em si legitimado pela busca da eficiência, leva a uma especialização monocultora que mata a biodiversidade e, a médio prazo, elimina suas próprias condições de possibilidade.
Não há monocultura nem produto sintético que possa substituir a importância econômica, cultural e social, em conjunto, do açaí, da amêndoa de castanha do Pará, do cupuaçu, do buriti, do babaçu, da copaíba, da andiroba, entre outros. Sua produção só é viável a longo prazo dentro de um ecossistema marcado pela biodiversidade, ou seja, como um conjunto integrado de produtos específicos, não transformados em commodities, mas sendo base de uma bioeconomia ecológica, baseada na floresta e no bioma amazônico.
A boa novidade é que, aos poucos, parece que esse recado começa a ser entendido e difundido em canais de comunicação e debates públicos realizados nos últimos anos, do qual fizeram parte representantes de agências financiadores internacionais, acadêmicos, ambientalistas, movimentos sociais e atores políticos e econômicos relevantes no debate atual sobre a agenda climática mundial.
Neste sentido, é importante que o mundo e o restante do país, assim como seus representantes institucionais, compreendam que a preservação do bioma amazônico não pode ser um projeto construído de fora para dentro, como um objetivo de “resgate” e “salvação” das florestas contra as populações e a falta de conhecimento locais. E sim como um projeto a ser construído conjuntamente e com a participação ativa dessas populações.
Por outro lado, não existe nem existirá uma única Amazônia. Nela podem caber enormes unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável, reservas indígenas demarcadas ou pequenas áreas de preservação, cidades de diferente porte, de perfil urbano e urbano-florestal, de bioeconomia ecológica, até conectadas a redes de biotecnologia que passarão também pelas metrópoles regionais, dependentes de serviços mais do que da produção, inclusive em Manaus.
Há também áreas degradadas pela extração de madeira e pela ocupação da pecuária cuja proximidade com a floresta facilita a restauração e permite a convivência entre a a criação de animais e a produção de grãos com a cobertura florestal legal, inclusive com a venda de serviços ambientais que estimulem ainda maior reflorestamento e integração lavoura-pecuária-floresta.
Enfim, uma gama diversa de alternativas precisa ser avaliada e analisada em contexto específico sobre a sua possibilidade de integração à economia regional amazônica e brasileira em sua lógica estratégica de busca pelo seu acoplamento em relação à dinâmica estrutural e ecológica que baseia, como fundamento, a diversidade do bioma amazônico.
Em outras regiões, por exemplo, o aumento da produtividade da pecuária tem sido essencial para permitir sua reprodução ampliada sem pressão por novas pastagens. Na Amazônia, no entanto, estes desafios são muito mais profundos, até porque não se pode esquecer que existe hoje na região um mercado de terra ainda em expansão, formando processos cíclicos de crescimento e contração na produção de novas terras a serem inseridas por grilagem no mercado, o que favorece o barateamento do seu preço de tempos em tempos.
Esse mecanismo pode tornar estéril qualquer tentativa de frear de maneira regular e definitiva a expansão da pecuária de baixa produtividade sobre áreas não desmatadas, mesmo com o avanço dos setores mais modernos supostamente poupadores de terra.
Neste sentido, um dos grandes desafios dos processos de desenvolvimento com preservação ambiental na Amazônia, é combinar políticas que deem conta de uma ampla estratégia de ordenamento territorial atrelada a uma política de estímulo à produção de riquezas na região com base na diversidade das formas de vida hoje já existentes em condições compatíveis com a preservação do bioma. Isso sem contar o enorme desafio que é o de contribuir com o processo de garantia na produção de segurança alimentar em escala regional, nacional e internacional, tendo em vista a tendência de crescimento da superpopulação global, sem substituir novas áreas florestais por pastagens e plantações de soja.
Com tudo isso, a cooperação internacional não pode, e nem deve, partir de visões simplificadoras e/ou distorcidas sobre a realidade econômica, política e social da Amazônia. Nem apostar todas as suas fichas em estratégias baseadas em princípio de preservação importantes, porém vulneráveis, que contam apenas com comando, controle e proteção integral do uso da terra e dos recursos do bioma.
O governo Bolsonaro é prova viva de que a porteira pode ser rapidamente reaberta, na marra, quando não for contida pelo desenvolvimento de estratégias eficientes de construção de políticas de desenvolvimento regional em grande medida encorados em estratégias de fortalecimento de uma economia do bioma amazônico. Uma estratégia que possibilite o acesso da população regional tanto a bens, serviços e direitos universais de seus cidadãos; como a condição dos mesmos de serem inseridos na construção de modelos de desenvolvimento alternativos para a Amazônia, que sejam construídos não a despeito da floresta, mas por causa dela ou junto dela. •
Economistas paraenses, são professores de desenvolvimento socioeconômico na Unicamp e na UFPA.