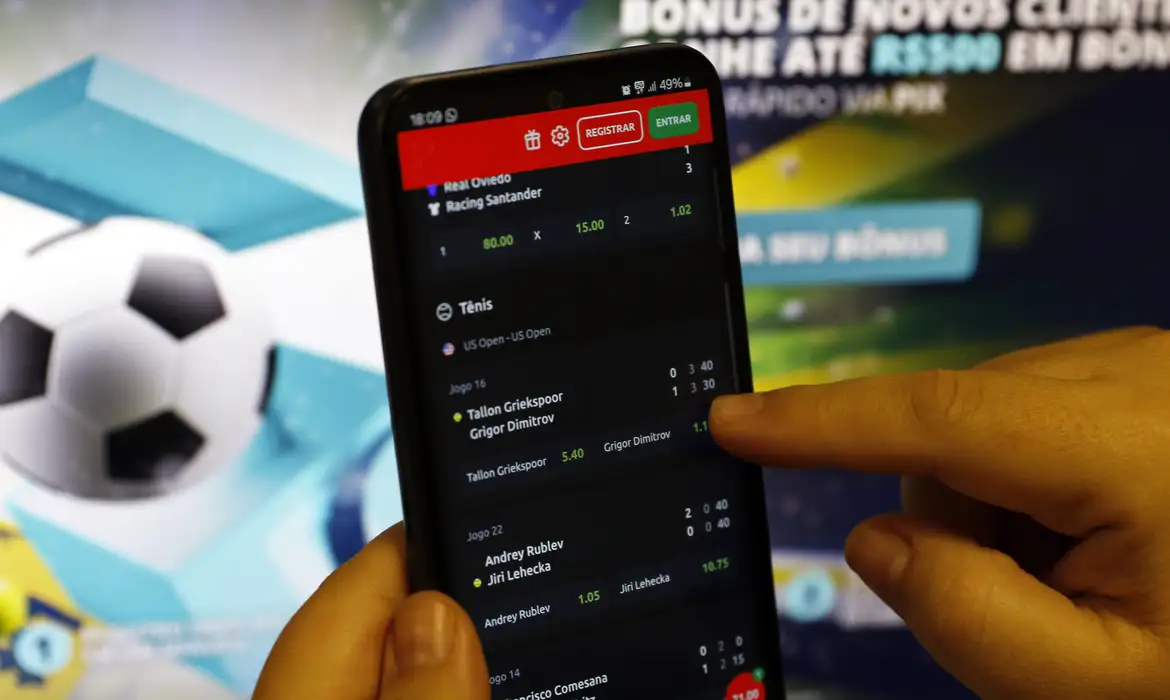Laurentino Gomes: ‘A história é feita por gente, pessoas reais’
Autor das trilogias mais badaladas sobre o passado brasileiro, o best-seller José Laurentino Gomes, após 15 anos e 7 livros vive em um momento de recolhimento dedicando-se a aprender italiano

Paranaense de Maringá e sete vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, o jornalista e escritor Laurentino Gomes deixou a vida de executivo de empresas de comunicação para dedicar-se ao estudo da história do Brasil quando sentiu a necessidade de jogar luz aos personagens reais do passado brasileiro.
Gomes transformou-se em escritor best-seller com os livros “1808“, sobre a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro; “1822“, sobre a Independência do Brasil; e “1889“, sobre a Proclamação da República. A trilogia sobre o período colonial e a monarquia incomodou muitos historiadores e acadêmicos tradicionais, mas ganhou o respeito do povo brasileiro, os verdadeiros personagens da história. Lançada pela editora Planeta, hoje a trilogia está na Editora Globo.
Em entrevista à revista Focus desta semana, o autor defende a “conveniência” da história do Brasil contada até recentemente. “Existe uma narrativa e uma interpretação da história do Brasil que é conveniente a quem contou, a quem fez os livros de história”, pontuou. “Existe uma construção sobre fatos e personagens reais, existe uma construção mitológica, imaginária, de um Brasil que às vezes não é real”.
O mais recente sucesso é a publicação dos três volumes de Escravidão, pela mesma editora. Convencido de que o Brasil não conhecia as crueldades e injustiças do período, Laurentino realizou dezenas de viagens a lugares emblemáticos no Brasil e ao continente africano em busca de vestígios do passado.
O resultado desta extensa garimpagem está compilado nas mais de 1500 páginas dos três volumes. Embora afirme que a escravidão é o assunto mais importante da história do Brasil, ele não pretende que sua trilogia seja a narrativa definitiva sobre o tema.
O escritor explica que “estudamos o passado para entender o presente, mas também para sinalizar a construção do futuro, por isso que eu acho que quando a gente fala de entendimento do Brasil, não é só o que aconteceu até agora, é o que vem pela frente, o que falta fazer, como fazer”.
Estima-se que suas obras já venderam mais de 2,5 milhões de exemplares no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-graduação em Administração na Universidade de São Paulo. É membro titular da Academia Paranaense de Letras. Além das duas trilogias sobre a história do Brasil, escreveu “O caminho do peregrino” em coautoria com Osmar Ludovico.
O que mudou na sua cabeça e no seu pensamento sobre a história brasileira depois desses anos de estudo sobre a criação do Brasil?
Depois de fazer esse sobrevoo sobre a história do Brasil, mudou tudo. Eu diria assim que existe uma curva de aprendizado a respeito do Brasil… Eu sou um jornalista, tenho mais de 40 anos de profissão. Fui repórter, fui editor, morei em todas as regiões do Brasil. Eu conheço bem a realidade brasileira atual e também o que aconteceu no Brasil desde o fim da ditadura até agora, que foi quando eu me formei, em 1976. Então acompanhei tudo de perto, mas eu sempre tive um interesse paralelo, que era estudar a história do Brasil, tentando entender as raízes mais profundas. Antes de chegar à trilogia “Escravidão”, eu diria que eu estava muito contaminado pela ideia que foi transmitida pela, digamos, elite dirigente brasileira, de que a história do Brasil poderia ser contada pelas suas instituições, leis, lideranças, e pelos seus fenômenos e personagens históricos. E aí é que entram as figuras de Cabral, Tiradentes, Dom Pedro, Dom João, Getúlio Vargas e assim por diante.Quando eu mergulhei na pesquisa, eu percebi, sim, que a história é feita por gente, pessoas reais e também por fenômenos, por conjunturas. Existem pessoas que agem sobre a história e tem a capacidade de mudar os rumos da história. As decisões pessoais tomadas pelas pessoas que viveram em determinados períodos da história, sejam importantes ou não, influenciam nos rumos da história, assim como as circunstâncias. Existem também os heróis anônimos da história do Brasil. Quer dizer, não dá para entender a história do Brasil sem observar a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos em 1776, todas as transformações na filosofia, na economia, na política ao longo do século XVIII e começo do século XIX. Essas são as circunstâncias que agem sobre as pessoas e fazem com que a história, de certa forma, vá se encaminhando para determinados rumos pela ação das pessoas individualmente, mas também pelas circunstâncias do momento em que elas vivem. Tudo isso é uma coisa muito complexa, mas eu diria que existe uma narrativa na história do Brasil que joga a luz sobre determinados protagonistas e circunstâncias. Isso é fascinante, porque a história é composta por coisas que realmente aconteceram no passado, personagens, acontecimentos, e que não mudam mais. Mas a maneira como nós olhamos para o passado muda a realidade do passado. Esse é um fenômeno muito interessante que precisa ser levado em conta ao estudar a história do Brasil. Ou seja, existe uma narrativa e uma interpretação da história do Brasil que é conveniente a quem contou, a quem fez os livros de história, a quem criou os currículos escolares. E quando você percebe isso, muda totalmente a sua compreensão a respeito da história do Brasil. Ou seja, existe uma construção sobre fatos e personagens reais, existe uma construção mitológica, imaginária, de um Brasil que às vezes não é real. Quando eu me dei conta disso, percebi que primeiro era preciso explicar que existe uma história não contada da história do Brasil. Um Brasil não contado nos livros didáticos e nos livros da história, digamos assim, na história oficial do Brasil.
Teve um evento específico que te despertou isso ou foi uma curiosidade jornalística?
Não, acho que foi um aprendizado ao tentar entender exatamente essa história que foi sonegada ao longo de muitos anos. Sempre tem um componente, digamos assim, heróico na história do Brasil. O Dom João que embarca 15 mil pessoas em 58 navios, atravessa o Oceano Atlântico e muda o Brasil, um grande protagonista do processo da independência. O herói das margens do Ipiranga, que saca a espada e diz “independência ou morte!” e daí estão rompidos todos os nossos laços com a história de Portugal. Mas existe uma história que está nas nossas sombras, que são os verdadeiros construtores da história do Brasil, e aí começa a aparecer, primeiro, os perdedores, aqueles que não entram como protagonistas da história porque perderam. Por exemplo, o Frei Caneca. O Frei Caneca tinha um projeto de Brasil muito interessante em 1820, 1821, que era um Brasil republicano, federalista, com educação, incentivo à indústria e ao comércio. É muito interessante o projeto do Frei Caneca, mas ele perdeu, ele foi fuzilado, foi arcabuzado lá no Forte das Cinco Pontas, em Pernambuco. Então, essa visão do Frei Caneca meio que desaparece. E tem, principalmente, a história da escravidão. Acredito que a história da escravidão é realmente uma coisa que foi crescendo na minha percepção do Brasil e resultou nessa última trilogia. Eu diria que na primeira trilogia, 1808, 1822 e 1889, procurei tentar explicar o Brasil do ponto de vista das instituições, das leis, dos acontecimentos e dos personagens. Embora tenha, sim, capítulos sobre o Frei Caneca, a maçonaria e as insurreições do período da regência, ao concluir a primeira trilogia, é como se eu tivesse observado, digamos assim, apenas a arquitetura do Brasil: um edifício com as suas paredes, os seus alicerces, o telhado. Mas faltava mostrar aos moradores o que tinha dentro desse edifício, e aí aparece a escravidão. A escravidão é o fio condutor de toda a história brasileira. Você não consegue entender a história do Brasil desde o seu mais remoto princípio, com a chegada dos portugueses na Bahia, em 1500, sem considerar a escravidão. E se a gente pensar em legado da escravidão, já me adiantando um pouquinho, até hoje o legado da escravidão é que quem realmente trabalha no Brasil, é muito em função dos herdeiros da escravidão. As relações escravistas que persistem no Brasil de hoje ainda têm a ver com o alicerce da construção da sociedade brasileira.
O senhor não acha que essa influência, essa presença deletéria das forças armadas brasileiras não dificulta a construção de um verdadeiro Estado democrático de direito no nosso país?
Sim, sem dúvida. Mas assim, tem razões históricas para isso. É preciso sempre lembrar que ao contrário dos Estados Unidos, que foram um território escravista, sem dúvida alguma, o Brasil foi mais. O Brasil recebeu 40% de todos os africanos escravizados, transportados para as Américas. Além disso, houve um processo deliberado de manter a maioria da população sob controle, sem dar prioridade à educação, ou seja, sem oferecer escolas ou meios adequados de comunicação. A imprensa só surgiu no Brasil em 1808, enquanto grandes jornais ingleses e americanos já existiam há bastante tempo. Na época da independência do Brasil, a América Espanhola já contava com 22 universidades, enquanto nossa primeira universidade foi fundada apenas em 1912. Aliás, foram três: a Universidade do Amazonas, a Universidade do Brasil (atualmente UFRJ) e a Universidade Federal do Paraná. Ou seja, quase 100 anos após a independência, o Brasil teve suas primeiras universidades.
Quando a corte chegou, 99% da população era de analfabetos. Na primeira República, eram 90% de analfabetos. Quando nasci, em 1956, era de 50%. Isso coloca um desafio que, na verdade, é mais do que um desafio, é um projeto nacional: a construção do Brasil de cima para baixo. Há um historiador da independência que disse que no Brasil “não tem povo”. Claro, temos povo em termos de população, mas não como agente político, capaz de participar ativamente do processo político. O que temos, em vez disso, é uma massa enorme de analfabetos, pobres, escravizados e excluídos, incapazes e não autorizados a participar do processo político. Então, se você observar do ponto de vista de longo prazo, temos a coroa portuguesa, centralizada, organizando a ocupação do território, as atividades econômicas, a escravidão, os grandes ciclos de exploração de riquezas. Depois, nós temos uma corte que atravessa o Oceano Atlântico e começa a organizar o Estado brasileiro durante os breves 13 anos em que esteve no Rio de Janeiro. Depois, nós temos o herdeiro da coroa portuguesa, que faz o grito de Ipiranga e tem o breve tumultuado primeiro reinado até 1831 e depois nós temos o segundo império, até 1889. O interessante é que a Constituição de 1824 criou o chamado poder moderador, segundo o qual o imperador estava acima de todos os demais poderes, ele podia intervir na justiça, no parlamento, no executivo, era o garantidor, digamos assim, dessa construção nacional. Embaixo, repito, tem um mar de excluídos, um mar de analfabetos, um mar de escravos e pobres, num Brasil muito isolado, um Brasil rural. Aí tem uma pequena elite imperial que se encarrega dessa construção nacional em proveito próprio, evidentemente. O interessante é que na República, as Forças Armadas herdam esse papel moderador. E não é à toa que durante as tentativas de golpe do Bolsonaro, se invocou muito o tal do poder moderador das Forças Armadas. É uma, digamos assim, distorção da interpretação das leis e da tradição, como se as Forças Armadas tivessem o poder moderador do imperador Pedro I e do Pedro II. É só um argumento golpista, não tem poder moderador algum nas Forças Armadas. Mas esse poder foi explicitamente invocado no fundo para dizer o seguinte: “olha, o Brasil não consegue construir-se a si próprio como um país viável, livre e orgânico com essa massa de analfabetos funcionais que nós temos, com esse monte de gente pobre, de gente excluída, que não sabe votar”. No fundo, é isso que está sendo dito, quando se invoca o papel moderador ou o papel de garantidor das instituições das Forças Armadas. E o interessante é que as Forças Armadas brasileiras, herdeiras do positivismo de Comte, no final do século XIX, Augusto Comte, que, aliás, defendia exatamente isso, a ideia de que precisava ter um poder superior aos demais que impedisse o caos no regime republicano. Uma parte das Forças Armadas de Benjamin Constant, Lauro Sodré, Euclides da Cunha, muito, muito influenciadas pelas ideias do positivismo de Comte, arrogam esse papel de continuar o poder moderador da monarquia. E até hoje isso acontece. O problema é que essas Forças Armadas têm hoje um viés muito de direita. Ao contrário das Forças Armadas, na época da República, em 1889, que tinha lideranças genuinamente reformistas, ou de 1930, com a Revolução de 1930 de Getúlio Vargas, em 1964. Hoje, as Forças Armadas são basicamente um garantidor do status quo. E é por isso que se invoca muito contra o comunismo, contra o socialismo, o “perigo vermelho” no Brasil e tal, ou seja, se tornar um poder moderador absolutamente conservador. Como o Brasil precisa de mudanças, é um país que precisa de mudanças urgentemente, isso se torna uma trava para a democracia. Porque, toda vez que se tenta uma mudança real no Brasil, as Forças Armadas intervêm para manter o status quo, que foi o que aconteceu em 1964.
No seu terceiro livro, da série Escravidão, você abre com uma citação sobre a Revolução. O Brasil precisa de uma revolução, como ela seria?
Eu diria que não é por falta de projetos revolucionários que o Brasil não aconteceu, como nós gostaríamos, vamos dizer assim. O tempo todo houve projeto de transformação no Brasil, começando pela Inconfidência Mineira, pela Revolta de Búzios, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, na Bahia, no final do século XVIII, a Confederação do Equador, a Revolução Republicana em Pernambuco, em 1817, depois uma série de revoltas no período da Regência, como a Cabanagem, a Balaiada e assim por diante. Depois também no período republicano, muitas tentativas de ruptura. Aliás, logo depois da proclamação da República, havia um grupo bastante revolucionário nas Forças Armadas, conhecido como Jacobinos, que queria uma transformação mais profunda. O que prevalece toda vez que um projeto revolucionário de ruptura aparece na história do Brasil, é uma grande capacidade da elite dirigente de se adaptar, de se transformar e assimilar esses projetos em proveito próprio. Poderíamos chamar isso de uma “bolha assassina”. Toda vez que houve um projeto de transformação de ruptura mais profunda, a elite brasileira consegue se adaptar em proveito próprio. Isso acontece na Independência, na Regência, na República, no período republicano, que tinha dois grandes projetos republicanos. Um era positivista e militar, de Benjamin Constant, e os seus estudantes da Escola da Praia Vermelha, que queriam uma mudança mais profunda no Brasil. Mas tinha um outro projeto republicano, que é o do Partido Republicano Paulista, que era dos cafeicultores, dos fazendeiros, e que queriam, no fundo, manter o status quo, queriam uma república liberal inspirada nos Estados Unidos. E é esse o projeto que prevalece depois do tumultuado governo Floriano Peixoto e da Guerra Federalista, com Prudente de Moraes e depois Campos Salles. Ou seja, inteligentes, ex-escravistas, que mandavam no Império, passaram a mandar na República, pelo menos até 1930. E se você observar a pressão que as elites, as oligarquias regionais, fazem no Congresso hoje, para inviabilizar mudanças, continua mandando até hoje. Ela se adapta a tudo: à Revolução de 1930, ao movimento de 1964, instrumentalizando as Forças Armadas para isso; também se ajusta à redemocratização e assim por diante. Ela se adapta ao governo Fernando Henrique, ao governo Lula, ao governo Dilma, e ao governo Bolsonaro, e assim por diante. Então, esse é um fenômeno muito curioso: essa elite dirigente brasileira, que é muito bem-sucedida em neutralizar projetos e processos revolucionários ou de ruptura.
Você acredita que o Brasil precisa de uma nova abolição, que aquela abolição foi incompleta?
Acho que esse é o coração do terceiro volume da minha trilogia sobre a escravidão. A principal conclusão é essa: o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por mais de 350 anos. Foi o último país a abolir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, e o último a acabar com a própria escravidão em 13 de maio de 1888. No entanto, nossos grandes abolicionistas — podemos citar quatro: um branco, Joaquim Nabuco, e três negros, André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama — defendiam uma “segunda abolição”. Esse conceito estava muito claro na mente dos abolicionistas do século XIX. Para eles, não bastava simplesmente parar de comprar e vender pessoas como mercadorias. Era fundamental incorporar essa enorme massa da população à condição de cidadãos com plenos direitos e deveres, proporcionando terra, trabalho, educação e oportunidades de participação no processo político. Infelizmente, isso o Brasil jamais concretizou. E, após ter estudado a escravidão e elaborado três volumes com quase 1.500 páginas, posso afirmar que essa falta de ação é a razão dos problemas que enfrentamos hoje. O Elio Gaspari, quando eu terminei o terceiro volume, escreveu uma coluna de resenha do meu livro e falou onde foi que o Brasil deu errado. Eu gostei dessa ideia. Claro que você pode identificar vários momentos em que o Brasil perdeu oportunidades, mas é na abolição, no momento em que o Brasil perde a oportunidade de realmente se tornar uma sociedade mais justa, mais inclusiva, uma sociedade incorporando a sua imensa maioria da população dentro do processo de construção nacional. É uma oportunidade que o Brasil perdeu. E, quando nós falamos hoje de desigualdade social, esse é o nosso principal problema estratégico no início do século XXI, pois esse é um dos países mais desiguais do mundo, não há outro problema brasileiro mais sério do que esse, o que inclui o racismo. Porque é só o racismo que explica a desigualdade, só a desigualdade explica o racismo. Quando nós falamos de desigualdade no Brasil, é a herança da escravidão. Sem dúvida, existem pobres brancos no Brasil, existem sertanejos, ribeirinhos, camponeses, uma massa de mão de obra barata na periferia das grandes metrópoles brasileiras. Mas, estatisticamente, a pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Quanto mais pobre é uma pessoa, provavelmente mais negra ela é, e vice-versa. Ou seja, existe uma correlação direta entre a herança da escravidão e pobreza e desigualdade no Brasil. E é essa segunda abolição que nunca aconteceu. E aí eu tenho insistido nas minhas entrevistas e palestras num ponto que é o seguinte: a segunda abolição é um projeto nacional que está à nossa espera. Quando eu vejo as pessoas, às vezes, muito desanimadas com o Brasil, que o Brasil não dá certo, nada funciona, se tem um projeto nacional que deveria mobilizar a todos nós, é a segunda abolição. Porque ela não interessa apenas aos negros e mestiços, ela interessa também aos brancos. Porque o ponto é o seguinte: nesse início do século XXI, a riqueza das nações não está mais na terra, no subsolo, nos recursos naturais, como esteve no passado. Claro que o pré-sal é importante, o petróleo é importante, o agronegócio é importante, as riquezas naturais são importantes, mas a principal fonte de riqueza das nações hoje é o conhecimento humano. É isso que está transformando o planeta, é isso que está transformando a economia, sociedades, é isso que está gerando soluções tecnológicas absolutamente inovadoras, como os smartphones, as redes sociais, os canais de streaming para distribuir conteúdo, ou seja, uma mudança que tem a ver com a capacidade criativa das pessoas. Quando o Brasil deixa à margem, em função da segunda abolição, que nunca aconteceu, a grande maioria da sua população, o Brasil está desperdiçando gente, está desperdiçando capital humano. Um país que desperdiça gente num momento em que a riqueza das nações vem do capital humano, é um país sem futuro, é um país que vai continuar pobre e dependente de soluções que chegam de fora. Quando chega uma epidemia de Covid, a gente não sabe fazer o insumo básico, tem que sair correndo de pires na mão, pedindo ajuda para quem sabe. A gente não sabe fazer as coisas, o Brasil está atrasado na indústria do carro elétrico, na indústria de digitalização, o Brasil está atrasado em tudo, nós ficamos dependentes de soluções que chegam de fora, como nós sempre estivemos. Por isso que eu insisto que a segunda abolição é do interesse também dos brancos, porque se nós não fizermos a segunda abolição, nós vamos continuar um país pobre e atrasado. Aí a pergunta óbvia é a seguinte: como é que se faz a segunda abolição? A primeira foi relativamente simples, assinou a Lei Áurea, está proibido comprar e vender gente. Pronto, resolveu, não tem mais ninguém cativo no Brasil, em regime de cativeiro. Como é que se faz a segunda abolição? Como pobreza no Brasil é sinônimo de herança da escravidão, a segunda abolição é o combate à pobreza. Simples assim, é uma equação lógica para mim: combater a pobreza no Brasil, distribuir renda, distribuir oportunidades, promover essa imensa maioria da população, que está abaixo da linha da miséria e não tem condição de promover a si própria, tudo isso convida a políticas públicas que levam à segunda abolição. Então, quando falamos em renda mínima, por exemplo, no Brasil, nós estamos falando em segunda abolição. Quando falamos em leis de cotas preferenciais para pessoas afrodescendentes, nós estamos falando de segunda abolição, porque tudo isso visa a promoção do capital humano. Então, observe que a segunda abolição não é apenas corrigir uma dívida do passado, ela é um investimento estratégico no futuro do Brasil.
Em 2011, você disse que o ex-presidente Fernando Henrique e o presidente Lula tinham mais semelhanças que o evidente. Os progressistas precisaram se unir para combater o que estava acontecendo no Brasil, e a gente jamais esperava que tivesse um Bolsonaro no meio do caminho. O que é que você vislumbra para os próximos 10 anos no país?
Você fez a leitura correta. Em 2011, fazer essa afirmação podia ser um pouco temerária, mas o Bolsonaro é a prova dos nove, de que o Lula e o Fernando Henrique são mais parecidos do que a gente imagina, porque o perigo é muito maior do que esses dois personagens e as suas diferenças, que eu considero grandes, mas não são tão expressivas quanto se imaginava na época, quando eles eram os antagonistas principais do processo político. Eu sou otimista, mas é um otimismo, digamos assim, calibrado com a realidade brasileira. O perigo está em achar que apenas a democracia vai resolver todos os nossos problemas muito rapidamente, e eu acho que essa é uma frustração que está no ar. Eu tenho observado muitos colegas meus — eu tenho 68 anos, portanto, sou da geração que viu as campanhas das diretas, a redemocratização — jornalistas, que dizem que não era esse o Brasil que eles queriam. Olha, na hora que você vê um sujeito quebrando uma cadeira nas costas do outro, num debate, para a campanha eleitoral da maior cidade brasileira, você fala: mas é essa a democracia que a gente sonhou, que a gente lutou para que ela acontecesse? É frustrante, mas quando você observa o Brasil com um distanciamento maior e entende o tamanho dos passivos que nós acumulamos ao longo de 400, 500 anos, é preciso calibrar as expectativas e não perder as esperanças e persistir no caminho que nós escolhemos com a campanha das diretas, em 1984. O Brasil vai mudar e o Brasil está mudando, isso é indiscutível, o Brasil está mudando e está mudando para melhor. É só observar. E, olha, não é mérito, insisto, não é mérito de nenhum governo em particular, é mérito de 40 anos da democracia, o Brasil vem mudando. E eu diria que é uma mudança bastante rápida, agora vai demorar muito mais do que nós gostaríamos. Vai ter frustrações, vai ter… teve um governo Bolsonaro que é um susto. Pode acontecer de novo? Pode. Por que não? Pode acontecer, sim. Há frustrações no horizonte, mas não existe maneira de construir um Brasil organizado com a participação de todos os brasileiros, de maneira que as pessoas aceitem o resultado no longo prazo, estejam de acordo, se não pela democracia. Então, o Brasil vai melhorar, o Brasil vem melhorando, mas vai demorar um pouco mais do que nós gostaríamos, é isso que é importante levar em conta. Porque tem mudanças de natureza cultural que precisam ser feitas.
Qual livro você está lendo no momento?
Eu gosto muito de estudar e estudo o tempo todo. Agora, estou estudando italiano, estou lendo um livro em italiano, um livro curioso sobre experiências de quase morte, sobre o estado de consciência no limite, depoimentos de pessoas que têm parada cardíaca, milhares de depoimentos que mostram que apesar do cérebro ter cessado aparentemente a sua atividade biológica clínica, existe uma consciência. Os depoimentos são muito parecidos. Então, estou lendo esse livro italiano, que não tem no Brasil ainda, mas que mostra também que eu tenho uma curiosidade muito grande em relação ao mundo que me rodeia. Não é só história, não é só política, não é só economia. Eu gosto de estudar também, às vezes, ciência e comportamento e coisas assim.
E uma pergunta inevitável: está em pesquisa para um novo trabalho?
Não, as pessoas me perguntam isso com frequência, eu estou sob pressão, né? Nos últimos 15 anos, eu publiquei sete livros. E são temas importantes: e vinda da corte, a Independência, a República, a Escravidão, eu acho muito, em 15 anos, você escreveu sete livros. A gente precisa ter tempo para pensar, para estudar, para refletir e tomar novas decisões. Então, eu estou estudando, estou aprendendo muito, mas eu estou num período de silêncio, de reflexão. Se daqui vai sair algum livro, eu ainda confesso que não sei. Mas é um momento de estudo, um momento de recolhimento, e não de ensinar o que eu estou aprendendo.