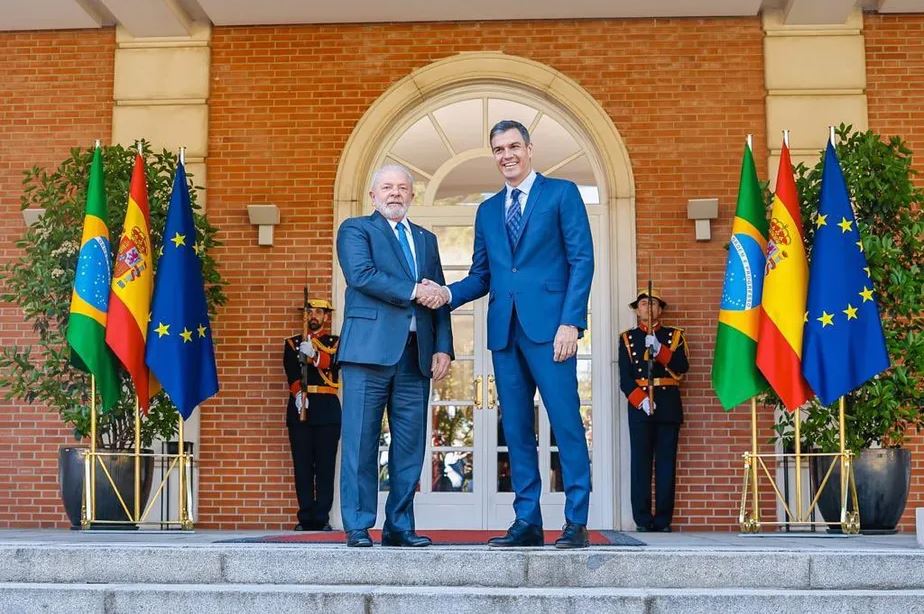Precisamos falar sobre Barbie, o filme?
Resposta não é tão simples como parece. Filme dirigido por Greta Gerwig, fenômeno de entretenimento global, levanta algumas questões sobre o futuro da indústria do audiovisual, enquanto leva hordas de espectadores vestidos de rosa para os cinemas

Bia Abramo
A esta altura, Barbie já é o maior fenômeno de entretenimento do ano — e as bilheterias, na casa dos milhões de espectadores: 4,1 milhões de pessoas entre a estreia, na quinta-feira, 20, e domingo, 23. Das 3.401 salas de cinema no Brasil, de acordo com levantamento da Ancine em 2022, o filme de Greta Gerwig está em 2.056 salas.
Os números são acachapantes, de fato, além de preocupantes — se somarmos às 710 salas destinadas ao outro blockbuster da temporada, “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, temos 80% dos cinemas brasileiros ocupados com apenas dois filmes.
Isso configura, de fato, uma verdadeira invasão do produto da indústria de entretenimento que espreme as produções nacionais para poucas datas e salas e com a obrigação de fazer bilheteria muito rapidamente para ficar em cartaz por tempo o suficiente para gerar boca-a-boca e público.
Também impõe uma desigualdade aguda de formatos e conteúdos: cinematografias não-alinhadas com a indústria têm chance muito menor de serem simplesmente conhecidas quanto mais de formar um gosto que destoe dos padrões da indústria hollywoodiana.
No entanto, antes mesmo de se tornar o filme arrasa-quarteirão que prometia ser por conta da campanha intensa de marketing real e digital que circunda o filme, a estreia de “Barbie” veio cercada de toda a sorte de expectativas e vaticínios.
Para simplificar, enquanto milhares de meninas e mulheres que tiveram (ou não) uma boneca Barbie no mundo inteiro entraram no tsunami rosa, desfilando com roupas e acessórios rosa, consumindo comidas rosa e instagramando tudo isso, um certo choque percorria o campo fundamentalista e do conservadorismo nos costumes ao que se antecipava sobre o filme a partir do trailer.
A prévia já avisava que “Barbie, o Filme” traria uma Barbie um tanto fora da embalagem, a começar de que a atriz que a encarna, Margot Robbie, ser uma mulher cujos traços físicos são praticamente idênticos aos do design da boneca original, continuando com as pistas de que a boneca seria transformada numa espécie de agente do caos do empoderamento feminino.
O fato de a diretora Greta Gerwig e Noah Baumbach, co-produtor e roteirista, virem do chamado cinema independente norte-americano e de Margot Robbie ter estrelado filmes do espectro cult, como “Arlequina” e o de Quentin Tarantino sobre Charles Mason, também criou um certo suspense no jornalismo especializado e nas redes sociais: conseguiria o filme manter sua pegada pop, inteligente, irônica e camp, mesmo se tratando de filme sobre um brinquedo? E, para piorar, um produto tantas vezes associado a padrões de beleza, de feminilidade, de consumo inatingíveis para muitas meninas e mulheres no mundo?
O primeiro problema do excesso de marketing é que as expectativas funcionam como uma profecia autorrealizável. No dia da estreia, por exemplo, o campo conservador já se armou de argumentações as mais abstrusas para condenar o filme como um perigoso instrumento de doutrinação feminista e anti-homem, apesar da névoa rosa que exala quase que a cada segundo dos 94 minutos que dura a projeção.
Mães cristãs gravaram vídeos indignados por que a história de Gerwig não era adequada para crianças pequenas — que, de fato, não é até mesmo pela classificação indicativa para maiores de 12 anos. Ou que mesmo as meninas mais adolescentes teriam seus “sonhos destruídos” por ver uma personagem-boneca em crise existencial, com dúvidas sobre o próprio corpo.
O alarme de machistas red pill, que leram as entrelinhas com a costumeira paranóia, rendeu intervenções que seriam até engraçadas se não denunciassem uma misoginia pegajosa e ultrapassada. Quem estava pronto para ir ver o demônio vestindo rosa e com look perfeito, conseguiu.
O segundo problema é que, para quem apenas queria entender o porquê de tanto frisson, o filme começa muito antes de se apagarem as luzes da sala, ou seja, assiste-se o filme já meio mastigado. Ainda assim, vale pontuar: “Barbie” é uma fantasia meio desbragada sobre dois mundos paralelos, onde crescer mulher, boneca ou pessoa, é ainda um desafio e um enigma.
Partindo de uma premissa meio amalucada de que foi a mera existência de uma boneca-mulher que equilibrou as relações desiguais de poder entre homens e mulheres no mundo real, Gerwig constrói uma história sobre o que é o “tornar-se mulher” que fica ali num meio do caminho de uma paródia e de uma fábula feminista (da perspectiva ocidental, branca e norte-americana, mas ainda assim feminista).
Nesse sentido, “Barbie” logra um equilíbrio interessante — e, talvez, raro — entre os artifícios do entretenimento em seu estado quase bruto, selvagem, da escolha dos atores “perfeitos” à das estrelas na trilha sonora (Dua Lipa, Bilie Eilish) e do entretenimento que se pretende, no mínimo, instigante ou que consegue, por vezes, rir de si mesmo.
Ao contrário da maioria dos filmes “de boneco”, como as redes costumam chamar de forma irônica as franquias de super heróis de quadrinhos, em “Barbie” problematiza-se pelo humor até mesmo a noção de que ali está acontecendo alguma coisa de extraordinário. Até mesmo o embate, a batalha entre Kens e Barbies é tomado como o que deve ser: uma brincadeira, um role playing game, onde se pode, por algumas horas, inventar um jeito mais diferente ou mais engraçado .
E, por fim, vale lembrar que “Barbie”, de alguma forma, coloca algumas questões interessantes sobre a travessia enigmática de uma menina que não é mais uma criança e ainda não é plenamente uma adolescente.
É como se o filme, no fundo, estivesse parafraseando e adaptando para contemporaneidade a célebre frase de Sigmund Freud: afinal, o que quer uma menina? E se o filme talvez tente dizer é que nunca saberemos, se não as escutarmos com cuidado, mesmo que elas só falem entre resmungos. •