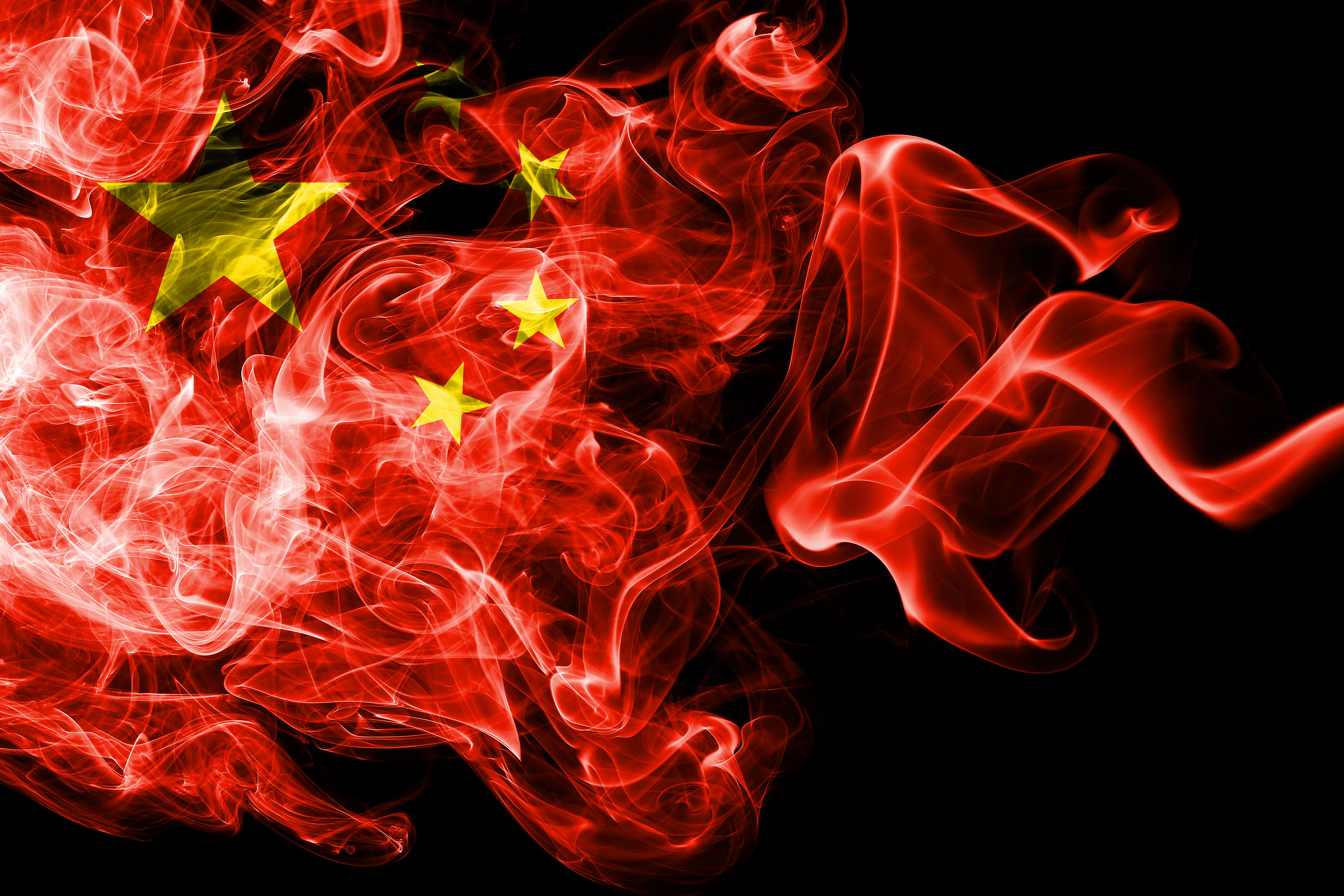Entrevista | Fernando Limongi – “O Impeachment de Dilma foi um desastre para a democracia”
Professor da USP faz uma análise fria sobre a crise do sistema político brasileiro e aponta que todos os líderes falharam com o afastamento da então presidenta em 2016. Inclusive a própria petista. “O processo de impeachment foi absurdo, com a autodestruição da classe política. E o resultado foi a emergência de Jair Bolsonaro”, lamenta

Bia Abramo
Em um livro que seu próprio autor classifica como uma obra de “intervenção política”, o cientista político Fernando Limongi reconstitui as tramas que levaram ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. “Operação impeachment – Dilma Rousseff e o Brasil da Lava Jato” analisa os movimentos que proporcionaram, de acordo com sua interpretação, a quebra da coalizão política que sustentou o primeiro mandato (2010-2013) e parte do segundo, até 2015.
Professor da USP e FGV, apesar de usar a leitura acadêmica como lastro, Limongi mirou o leitor não-acadêmico para tentar explicar como se desenrolou a crise política que veio dar na eleição de Jair Bolsonaro e na ascensão ao poder da extrema-direita.
Para isso, baseou-se no noticiário de jornais, o que confere um terreno comum para que Limongi ilumine as reviravoltas que deram no segundo afastamento de um presidente desde a redemocratização. Crítico do recurso do impeachment, ele adverte: “São, e devem ser, processos excepcionais. Suas consequências para o sistema político são incomensuráveis”.
Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista.
Focus Brasil — Como nasceu a ideia do livro e como você optou por essa linha narrativa, a partir da leitura crítica do noticiário.
Fernando Limongi — É meio óbvio, não? Como cientista político, como acadêmico, eu participo do debate político brasileiro. E participei durante o período de crise política, escrevendo artigos, participando de seminários, de mesas redondas. E eu sempre fiquei muito alarmado, por que sempre tive uma posição muito crítica das rumos que os atores políticos estavam tomando, os atores políticos institucionais, mas também os próprios cientistas políticos, jornalistas, meus amigos do Cebrap, da USP, onde estava trabalhando… Ficava achando que as pessoas estavam fazendo uma leitura errada da conjuntura, que elas não estavam conscientes dos riscos ou das consequências das atitudes ou das decisões estratégicas que os atores estavam tomando: por exemplo, sempre me opus abertamente a qualquer pedido de impeachment da presidenta Dilma. Foi a imersão nesse debate que me levou a escrever o livro. Esse livro é um livro político, um livro de intervenção política, um livro com uma mensagem clara anti-radicalização, anti-impeachment.
— Você caracteriza o impeachment como um processo que deveria ser excepcional, e, no entanto, desde a redemocratização, dois presidentes foram afastados. Dá pra traçar aí uma leitura das semelhanças e diferenças nesses dois processos de impeachment?
– A minha posição é problematizar os impeachments – e não só no Brasil, mas em todos os países presidencialistas. Mostrar que na literatura acadêmica houve uma tendência a minimizar as condições necessárias para que o impeachment ocorra. No caso do Brasil ficou mais forte. É isso. São dois impeachments em um período relativamente curto de tempo. O modelo, digamos assim, que eu utilizo para explicar o impeachment da Dilma, do ponto de vista acadêmico mais analítico, se aplica também ao caso do Collor. Meu ponto central é que não é a oposição que faz o impeachment. Quem faz o impeachment, quem propicia a condição necessária para que ocorra, é uma quebra interna da coalizão governamental. No caso do Collor, as explicações correntes simplesmente não tocam nesse assunto, tomam sempre o impeachment do Collor como uma obra da oposição. Mas ele tinha uma maioria muito disciplinada a favor do seu governo. Se ele caiu, é porque essa maioria quebrou. O pivô da queda do Collor são dois partidos: o PFL da época e o PDS que depois virou o PP, os partidos que são oriundos da Arena. Em algum momento, abandonam o governo e aí sim, há uma coalizão que se forma entre esses partidos de direita, herdeiros da ditadura, e a oposição. Se esses partidos não tivessem trocado de lado, não teria ocorrido o impeachment do Collor, da mesma forma que, no processo de impeachment da Dilma, sem que a coalizão comandada pelo PT se cindisse durante o segundo governo Dilma — e, na verdade, ela só se cinde pra valer em 2016, não teria ocorrido o impeachment. Então é PMDB e PP, PSD que, saindo para a oposição, conseguem levar adiante o impeachment. E o PT demora para se dar conta do risco que está correndo. Tem as suas cisões internas, que exploro no primeiro capítulo, onde mostro como durante o primeiro governo Dilma, vai haver um afastamento entre a CNB — Construindo o Novo Brasil —, a tendência dominante do PT, e o governo Dilma. E isso leva à emergência do escândalo de Pasadena e ao movimento do ‘Volta, Lula’. A Dilma sempre teve uma relação conflituosa com o PT, ou melhor, com a tendência majoritária dentro do PT, e isso propiciou essa quebra e a possibilidade do PMDB e do PSDB depois virem a abandonar a Dilma.
—E isso se dá pelo fato de a Dilma originalmente não ser do PT, vir do PDT?
— Eu diria que essa é uma visão equivocada. Não é o problema da Dilma ser do PDT e nem que ela tenha sido imposta pelo Lula. Ela foi escolhida pela posição majoritária, que referenda a escolha do Lula. Essa não é uma escolha que foi pessoal do Lula, mas uma escolha do partido. Você tem que lembrar há todos os conflitos internos do partido durante os dois governos Lula, que vão ceifando as lideranças do próprio PT. Então, a convergência para a candidatura Dilma é uma forma de pacificar o partido e de encontrar um nome como que a acenar que todos poderiam aspirar o seu lugar ao sol. É na hora que o governo começa que essa convergência vai se esboroar, na medida em que a Dilma vai fazendo escolhas. O primeiro grande conflito é a queda do Palocci no início do primeiro mandato da Dilma, que é um conflito intrapartidário. E aí, o que a Dilma vai fazendo é procurar se tornar independente, autônoma, mas isso só é possível se ela se apoia nas tendências minoritárias dentro do partido. Se você olha a composição ministerial do governo Dilma, você vai vendo que cada vez mais os membros da CNB vão indo para posições marginais e os membros das tendências minoritárias ou gente que está com a posição estremecida com a tendência majoritária chegam ao centro do governo. Ela vai puxando o pessoal, digamos, das margens do partido ou das posições minoritárias, para tentar reequilibrar a relação dela com o partido. O livro também tem esse papel de levantar os problemas internos do partido, porque é muito fácil você analisar o impeachment e dizer que foi uma jogada da oposição ou da reação contra o PT e o PT tirar todo o corpo do problema do qual ele fez parte. Assim, a coisa fica toda jogada nas costas da pessoa da Dilma. É tudo personalizado, né? Essa é uma das uma das mensagens, digamos assim, do livro. Tem que olhar também os próprios erros: sem essa divisão interna do PT é que reverbera sobre a coalizão, o impeachment não teria acontecido.
— Você mencionou o fato de um processo de impeachment ficar muito centralizado na figura do presidente e queria lembrar aqui que a justificativa e o discurso para que um afastamento ocorra vai para o terreno moral. Que consequências isso tem para a democracia?
– São terríveis e é por isso que eu cito aquela passagem do Fernando Henrique dizendo que um impeachment é uma bomba atômica. Ele serve para dissuadir, não para ser usado. Essa é uma das principais mensagens do livro: é um erro jogar uma bomba atômica. O processo de impeachment como um todo foi um processo absurdo e um processo de autodestruição da classe política e o resultado é a emergência do Bolsonaro.
— Essa idéia da fissura da coalizão, uma expressão muito boa, se dá toda em torno do tema corrupção. E, correndo em paralelo, a gente vê a Lava Jato se tornando um processo cada vez mais político. Como o Judiciário incidiu tão profundamente na quebra da institucionalidade política?
— Essa pergunta tem vários planos. A entrada do Judiciário e a sua tentativa de estabelecer uma espécie de supervisão ou tutelagem, ou exercer uma espécie de poder moderador sobre o sistema político, não é uma tendência que seja exclusiva do Brasil, vem ocorrendo no mundo inteiro. Caminhando paralelamente a isso, tivemos também a questão da corrupção ser levantada ou erigida ou colocada como uma questão central a ser resolvida, que, por sua vez também é uma coisa que vem de fora e que é generalizada. Outra tendência é o papel crescente da judicialização da política. Tem esse contexto geral e tem também um particular do Brasil. E dentro desse contexto particular, a Lava Jato entra. Tudo depende um pouco de qual dessas três perspectivas vamos analisar. Acho que é interessante notar que esse papel crescente do Judiciário e sobretudo, de um papel grande do Supremo em se arvorar o papel de reformador do sistema político. Ele está posto, digamos, em germe, no próprio modelo da Constituição, no jeito que a Constituição foi escrita e o papel que se reservou ao Supremo. Mas o STF não exerce esse poder por um bom tempo, digamos assim. Ele vai ganhando esse papel. Durante o governo Fernando Henrique, não intervém deliberadamente, só muito parcialmente.
Mas quem está convidando o STF e o Ministério Público a participar? Paradoxalmente, é o PT. As esquerdas vão mobilizar o Judiciário e o Ministério Público para tentar barrar as reformas liberalizantes do Fernando Henrique por que a Constituição é mais estatista, não é tão neoliberal e essas reformas que estão sendo passadas aqui, sejam as constitucionais, seja a desestatização, senão a privatização, está contra o texto consumado. O PT vai, digamos assim, preparando o terreno para essa entrada ou dando legitimidade a esses atores não-partidários, não políticos, a entrar na esfera política.
— Mas o convite não é aceito.
— Ele só vai começar a ser explorado pelo Supremo, sobretudo de forma mais consistente, um pouco antes do Mensalão e aí ganha força com o Mensalão. É numa visão negativa do chamado presidencialismo de coalizão e em que é basicamente confundido com práticas corruptas de que o governo monta sua base, monta sua coalizão, abrindo mão de certos controles e deixando que esses partidos minoritários que fazem parte da coalizão se lambuzarem, para usar a expressão do Jaques Wagner. Quando o Mensalão emerge, essa essa visão de que o presidencialismo de coalizão é intrinsicamente conectado com a corrupção ganha corpo ou se constitui mais fortemente. E o Supremo passou, então, a querer reformar o sistema político e se arvora ao papel de assumir esse papel de civilizador ou moralizante. Ou o que quer que seja. Tudo para recuperar certos princípios que teriam sido perdidos. A Lava Jato vem dentro desse movimento, digamos assim, mas ela tem claramente aspectos específicos e particulares. Porque ela se desloca, digamos assim, da reforma política, que era o tema para a punição dos corruptos. Isso também já vinha rolando. Já vinha no movimento, por exemplo, que vai dar na aprovação da Lei da Ficha Limpa, tentativas de impedir que políticos vistos ou definidos como corruptos ou que tivessem incidido em práticas ilícitas pudessem concorrer eleitoralmente.
— Um caldo perigoso.
— A Lava Jato nasce dentro desse clima. Mas se você for olhar especificamente a montagem da Lava Jato, vai ver que inicialmente ela é deslanchada como um apoio ou pelo menos sem a oposição da presidente Dilma e do osso longo do governo. Então é preciso entender que a Lava Jato, enquanto investigação criminal, a missão dela era para investigar desvios na Petrobrás ocorridos durante o primeiro e o segundo governo Lula. Não mais do que isso. Então, tem uma coisa que é a investigação criminal que está rolando em Curitiba. Outra coisa é o movimento que vai se formando, de opinião pública ou do meio político, de medidas de combate à corrupção. A Lava Jato começa a se vender ao público como se estivesse falando que teria um projeto de limpar o país ou de combater a corrupção de forma geral, e não ao caso específico da Petrobrás. Nesse movimento, a Lava Jato consegue uma coisa fantástica. Faz uma operação de convencer a opinião pública de que o está investigando não é um caso específico, mas uma prática generalizada. O outro ponto é que a Dilma está apoiando a Lava Jato diretamente. Todo o discurso é de que ela vai ir até o fim, vai investigar até o fim, vai deixar que as investigações cheguem ao fim, doa a quem doer, quem quer que seja que esteja envolvido E é uma posição que está em conflito com a posição que o PT tomou durante as investigações do Mensalão, que foi uma posição de que isto é uma perseguição política ao PT e não uma investigação criminal. Que ali tinha uma motivação político-partidária. Dilma estava tentando fazer do combate à corrupção uma das suas grandes, digamos, bandeiras ou marcas do seu governo.
— Um erro de avaliação da Dilma?
— Eu acho que há um erro de avaliação, um erro estratégico. Teve ali uma ideia ou uma pretensão de que ela seria capaz de controlar os efeitos da investigação da Lava Jato. Que ela não seria atingida, criminalmente, politicamente. E, no caso, de que seria capaz de se alavancar com isso. Nem uma coisa nem outra se provou correta. E então ela acaba sendo vítima da própria Lava Jato. A operação, no fim, no fim, no fim, é quem derruba ela. O verdadeiro responsável pelo impeachment eu acredito que seja a Lava Jato, por causa do risco ou o temor da classe política de que as investigações da Lava Jato alcançariam todos. Então, a Dilma errou nesse ponto. Agora, o que é importante para mim ressaltar é que ela não foi a única. Vários outros políticos erraram. E foram vítimas da suas próprias estratégias. É o caso de Aécio Neves. E, também parcialmente, o próprio Lula. Então está todo mundo jogando. E tá todo mundo cometendo erros, né? A própria Lava Jato, se você pensar, também acaba sendo vítima de si própria. Todo mundo erra. Como disse inicialmente, o desastre que vem depois é a eleição de Bolsonaro e os quatro anos de governo dele.
— Erra-se muito na vida pública…
— Sim, e na vida política. É sempre difícil para o político fazer a avaliação de qual é o momento de moderar ou fazer o acordo por debaixo do tapete, digamos assim. O político gira sempre em dois registros: um que é o jogo, digamos, de sinalização para o seu eleitorado e para a opinião pública, em que ele tem que parecer radical, como o líder que tem princípios inalienáveis, não faz acordo, não conversa com a oposição, não faz jogo sujo etc. E, num segundo plano em que tudo isso aí rola abertamente, ou tem que rolar um certo acordo entre a situação e a oposição, uma certa conversa sobre os interesses comuns, que é de preservar a democracia e o regime eleitoral competitivo. Esse é o grande ponto de união de todos os políticos, que é muito difícil para o público geral, para os eleitores aceitarem e é por isso e isso tem que rolar meio que secretamente. O que acaba acontecendo num momento como este de crise, como do impeachment, é que qualquer mostra ou negociação que envolve a moderação é rapidamente penalizada ou vista como imoral e como algo que é uma traição. O que acaba rolando num momento de radicalização e polarização é esse enaltecimento da Dilma de uma política aferrada a princípios e de não-negocição.
— Um equívoco.
— E tem outra coisa: se você for olhar a opinião pública brasileira, a imprensa brasileira é muito moralista desse ponto de vista, né? Hoje mesmo, se você lê, por exemplo, a Folha de S.Paulo, diz assim: Ó, o Lula não está fazendo aquilo que ele prometeu com relação ao orçamento, está deixando rolar o orçamento secreto, está fazendo concessões ao Centrão. Como se fosse um pecado, como se isso fosse um erro do Lula… Bom, Lula está fazendo isso porque é a lei, ele não pode simplesmente não executar o orçamento. Se o Supremo diz que o orçamento escolhido é este, ele tem que fazer. Ele não vai quebrar o pau com o [Arthur] Lira agora. E a imprensa noticia isso como um erro moral, uma traição aos seus princípios. Toda imprensa acaba sendo absurdamente moralista e não objetiva. E isso não é uma coisa que você possa dizer simplesmente que é da linha editorial do jornal ou imposta pelo dono do jornal. É uma visão muito arraigada na intelectualidade, digamos, ou na elite intelectual brasileira, da sua visão de como o sistema político funciona etc. E vai bater naquela coisa que eu já falei, dessa visão negativa do presidencialismo de coalizão como envolvendo necessariamente trocas ilícitas, não ditados por ideologia, ou por práticas ilícitas etc. E você sempre pode tratar ela como positiva. Eu estava pensando outro dia, por exemplo, numa coisa que foi muito noticiada e muito explorada, que foi o famoso aperto de mãos do Lula e do [Paulo] Maluf. Putz, que absurdo! Como é que o Lula pode apertar a mão do Maluf? Não pode. O cara é o demo, o cara é da direita, não sei o quê.
— Sem enxergar que é do jogo.
— Essa coisa positiva que a gente tinha conseguido na democracia brasileira, os acordos rolando e o governo funcionando sem esse emperramento ideológico… Essa polarização passa a ser vista como muito negativa, como algo a não ser aceito. Mas aí esse caldo de cultura, digamos, é que alimentou a radicalização do período do governo Dilma e que levou ao ímpeto e à emergência de uma liderança como o Bolsonaro, cuja grande característica, digamos assim, que fez com que se tornasse popular, é o fato de que ele seria verdadeiro e não negociava, não fazia concessões. Ele é o cara que realmente diz o que pensa e faz aquilo que pensa. Não importa tanto se substantivamente o que ele pensa e o que ele faz não são besteiras. Importa que ele é verdadeiro, mas que ele não vai nos trair.
— Uma visão simplista.
— O Lula ao fazer acordo com o Maluf é grandeza do Lula. A grandeza do nosso sistema político é essa nossa capacidade de colocar de lado nossos conflitos e conseguir resolvê-los de forma pacífica. É isso que começou a ser visto como negativo. Toda moeda tem dois lados, certo? Então a questão é quanto você acentua um desses lados, né? Eu enfatizei as lutas internas da coalizão, mas isso não quer dizer que eu esteja inocentando ou diminuindo o papel que os equívocos feitos pela oposição que levaram ao impeachment da Dilma. A radicalização do PSDB, comandada pelo Aécio e um monte de besteiras que eles fizeram, a começar pela contestação do resultado eleitoral de 2014. O Aécio quando entra com um recurso pedindo auditoria das urnas, atendendo, digamos, ou acenando claramente ao eleitorado que era de direita e ao eleitorado de extrema direita e numa organização que estava rolando que já é o embrião da candidatura de Bolsonaro. O capitão não participa da eleição de 2014, mas já está com a cabeça ali. E quando ocorre uma derrota do PSDB novamente para o PT, ele e a extrema direita falam: Agora chegou a nossa vez. O que se provou em 2014? Que o PSDB é incapaz de derrotar o PT, que tem que vir um pouco mais para direita e usar outros métodos. São duas coisas aqui: métodos e ideologia. Então tem uma manifestação convocada já pelo grupo do Bolsonaro e pelo pessoal que se mata gravitando em torno dele. Ele já era um possível candidato dessa turma. E, para o primeiro sábado depois da eleição, tem uma manifestação convocada pra pedir recontagem dos votos, dizendo que a eleição foi fraudada. Já era um tema caro ao Bolsonaro. E Aécio encampa esse pedido, entrando com uma ação no TSE. Ele teve a pretensão de pensar: não vai ser o Bolsonaro o líder da malta, vou ser eu. E tenta puxar isso e o PSDB se enamora dessa possibilidade. Todos se encantam com a possibilidade de construir um movimento de rua que vai brigar com o PT nas ruas, nos movimentos sociais, tirando do PT o monopólio, digamos assim, das ruas. É que eles estão vendo isso sendo montado e querem controlar esse movimento, assumir a liderança desse movimento. E então você tem uma decisão ali da direita, da oposição, do PSDB, que é de radicalizar, de ir para a cabeça e de não tolerar, digamos assim, mais um governo Dilma.
— A intolerância tucana?
— Esse movimento é pesado, esse discurso da intolerância e de que é impossível ter mais um mandato do PT, que mais um mandato do PT significará a destruição do país. Quando isso não era verdade de hipótese alguma, por qualquer, qualquer, qualquer dimensão que você analise. O PT não é um risco para a democracia? Nunca foi, nem é um risco para o que quer que seja que digam os economistas, como a ameaça às contas públicas… Outra farsa farsa é que o PT tem no seu DNA tendências autoritárias e ultra-expansionistas, fiscais ou o que quer que seja. Começa a se falar em bolivarianismo no Brasil, esse tipo de besteira. Então a direita, o PSDB, se dilui, pisa, vai para lá para radicalizar. E esse discurso de intolerância é muito comandado pelo Aécio, mas o [José] Serra embarca nessa também. O único a dizer e fazer justiça a alertar o PSDB de que o partido está entrando numa barca furada e numa nova via sem retorno é o Alckmin. O Geraldo Alckmin! Talvez porque ele seja mais democrata ou inteligente do que os outros, mas simplesmente é o único com um governo para tocar e o do estado de São Paulo para tocar. E ele precisava de colaboração com o governo federal. Ele sabia disso e era o próximo candidato do PSDB. E isso estava estabelecido. Então, tanto o Serra quanto o Aécio e outros estão tentando radicalizar, mas também para impedir que o Alckmin se tornasse o candidato do PSDB em 2018. É um movimento suicida e esse suicídio do PSDB vai se consumar, no abraço ao [Michel] Temer, depois do caso Joesley. Ali, a candidatura do Alckmin foi para o brejo.
— Você acha que a importância de 2013 foi super estimada nesse processo de desgaste do governo Dilma?
— A dimensão do que ocorreu foi grande e evidente: muita gente na rua. O Brasil parou por uma semana. Essa coisa da direita que eu estou dizendo que estava se armando é o que Angela Alonso mostra, é que a direita está se organizando muito antes de 2013 e que, ali, está mais organizada do até que a esquerda. A direita já está na rua antes e já está contestando o monopólio da esquerda das ruas. Do ponto de vista político eleitoral, 2013 teve pouco efeito, porque o quadro para 2014 continua PT versus PSDB. E ninguém, digamos assim, fatura o movimento. Mas é óbvio que 2013 tem um efeito sobre as propostas, o imaginário, o diagnóstico etc. E de como os atores estão se movimentando, os partidos. E deu no que deu. •