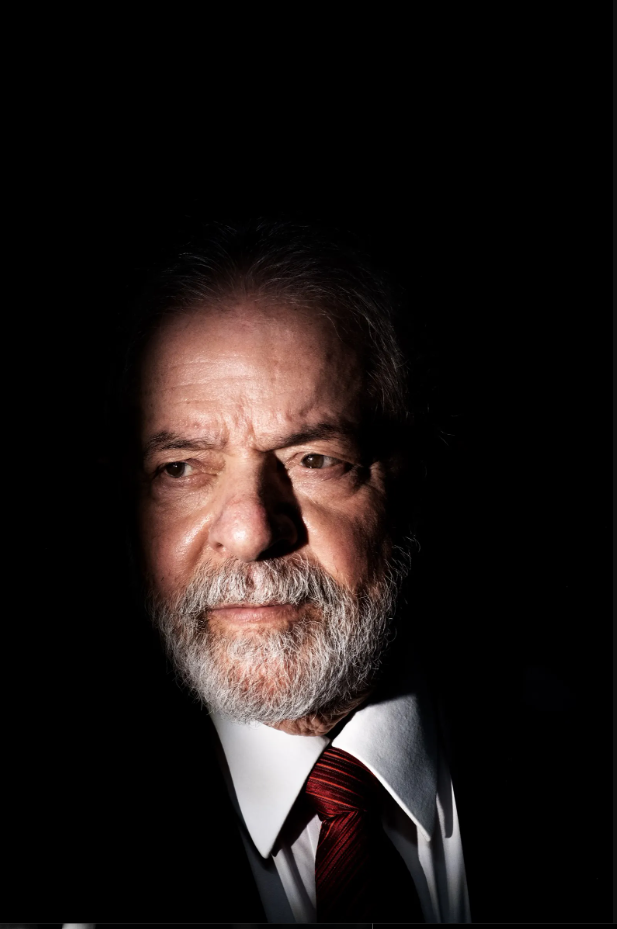Entrevista | Camila Rocha – “É preciso isolar e sufocar a extrema-direita”
A cientista política Camila Rocha alerta que o bolsonarismo não depende do ex-presidente para manter-se em evidência e mobilizado. E os extremistas seguem organizados no Congresso. “A gente tem que fazer com que os extremistas não possam respirar mais porque o absurdo é que a extrema-direita foi normalizada e a gente tem que ‘desnormalizar’ agora”, aponta
A derrota do senador Rogério Marinho (PL-RN) para o cargo de presidente do Senado foi fundamental para a democracia brasileira, avalia a cientista política e pesquisadora Camila Rocha. O resultado faz com que políticos identificados com o que pode ser chamado de “bolsonarismo raiz” não estejam mais ocupando nenhum cargo de liderança nos poderes da República. É uma mudança que enfraquece muito a estratégia desse grupo político que controlou o debate público nos últimos quatro anos.
Mas, na avaliação da mestra e doutora em ciência política, apesar do enfraquecimento, a derrota não significa o fim da extrema-direita. Nem mesmo a saída de Jair Bolsonaro da cena política deve representar o fim dessa facção. A pesquisadora do Cebrap, que estuda a direita no Brasil desde 2004, aponta que o movimento não se limita ao ex-presidente e nem mesmo ao clã. Existem outros líderes que podem ser alçados ao lugar dele.
Desta forma, nem mesmo a prisão dos golpistas pode ser capaz de diminuir as ações que atentam contra a democracia. Em alguns casos, as prisões podem até gerar efeito contrário, aponta. Na perspectiva da pesquisadora, é fundamental que a extrema-direita seja isolada, fique sem espaço no debate público até que, com o tempo, acabe morrendo, sufocada por inanição. Leia, a seguir, trechos da entrevista à Focus Brasil:
Focus Brasil — O que ocorreu após os ataques do dia 8 de janeiro, as prisões e tudo o mais, é possível dizer que isso representa uma derrota para a extrema-direita? Porque aquilo parece ser o ápice do movimento e aparentemente deu errado.

Camila Rocha — Por um lado, é possível dizer que, sim, existe uma derrota importante no sentido de que as pessoas que estavam ali esperavam que o Exército iria ficar ao lado delas até o final e o que se seguiria àquela invasão era uma espécie de mobilização maior em prol de uma intervenção militar. Ou algo do tipo. O que não veio. Para além disso, também acho que muitas pessoas ali não imaginavam que poderiam ser presas, acusadas por crimes. Nesse sentido, acho que sim, eles devem considerar que foi uma derrota importante. Agora, ao mesmo tempo, é importante dizer que para eles, só de haver 10% das pessoas, hoje, que viram aquilo com bons olhos… Mais do que isso, acabou de sair um estudo do Fórum [Brasileiro] de Segurança Pública [mostrando que] 40% dos agentes de segurança pública falaram que entendiam os motivos da revolta.
Acho que isso sinaliza uma preocupação. Várias daquelas pessoas, hoje, provavelmente se veem como uma espécie de mártires do movimento. Se, por um lado, vai ter um grupo que vai se sentir desencorajado a continuar agindo de forma violenta e criminosa, outro grupo talvez se sinta encorajado, a despeito do que aconteceu, de continuar atuando em prol de algum tipo de intervenção militar ou ataque violento à democracia. É importante lembrar que, no Congresso, existem muitos deputados e senadores que não só são favoráveis ao que aconteceu, mas atuaram diretamente. Por exemplo, um dos assessores da Damares Alves, que hoje é senadora, foi justamente o homem que fez aquela tentativa de ataque à bomba no Aeroporto de Brasília. Quer dizer, isso está no Congresso, né?
Vamos dizer, a representação desses interesses e até as próprias pessoas estão literalmente no Congresso. Isso é muito grave. E, em certo sentido, vai acabar dando continuidade a todo esse ataque às instituições democráticas.
— Silvio Almeida afirmou que “Bolsonaro sequestrou o presente e o futuro”. A gente só fala dele. A eleição para a Presidência do Senado foi uma última tentativa do bolsonarismo para conseguir manter algum controle do debate público. O fato de eles terem perdido é importante?
— Com certeza. O fato de o senador [Rogério] Marinho ter perdido foi um avanço muito importante das forças democráticas, das forças progressistas do país, mesmo a despeito do [Rodrigo] Pacheco não ser…
— Nenhum baluarte do progressismo…
— Exatamente. Mas tem esse sentido de criar um cordão sanitário para o bolsonarismo, certamente. Agora, isso por si só, não quer dizer que essas pessoas não vão continuar a fazer política lá dentro, ou a se expressarem. Durante todo o governo Bolsonaro, e mesmo agora, a gente tem acompanhado a dificuldade que os parlamentares têm em responsabilizar outros colegas por falas antidemocráticas ou por atitudes antidemocráticas. Dificilmente alguma coisa dessas vai para comissões de ética, é responsabilizada e punida. Muito raramente alguém perde mandato por conta disso. Se a gente for pensar, por exemplo, o caso do Daniel Silveira é um caso excepcional. O Alexandre de Moraes se envolveu pessoalmente na história toda e ainda assim foi muito disputado, né? Então, foi um avanço importante, mas não quer dizer que a gente não pode esperar um caminho acidentado nos próximos anos.
— Quais são os principais meios de organização desses grupos de extrema-direita? É a internet ou tem uma organização presencial e em outros fóruns?
— Bom, eu não acompanho. Mas sempre estou conversando com pessoas que fazem esse acompanhamento. Então, o que eu vou falar está baseado nas investigações dessas pessoas. Um colega fez uma etnografia dos acampamentos muito interessante. Chama-se Jonas Medeiros. Também tem outra pesquisadora, Lilian Sendretti, do Cebrap, que está fazendo acompanhamento. As atividades digitais são imprescindíveis para a organização desses grupos. Tanto via WhatsApp mesmo, mas outras plataformas, como Telegram e outras menos conhecidas.
Nos últimos anos, vários cientistas de dados vieram acompanhando grupos bolsonaristas e uma coisa que sempre chamou a atenção é que existiam pessoas muito mais ativas nesses grupos. Existe uma espécie de maioria que fica ali mais passivamente. E outros bem ativos. Há até uma certa desconfiança — “bom, talvez essas pessoas sejam assessores, políticos, que recebem algum tipo de remuneração para estar ali, ativando, estimulando grupos, mandando mensagens”. Existe isso. Há uma profissionalização, não só do ponto de vista político e técnico, mas do ponto de vista tático-militar. Gente que é militar, policial militar e tem ‘know-how’ de como fazer aquilo. Eles contam com as duas coisas.
E, na questão presencial, é muito importante salientar que muitas pessoas formaram vínculos muito fortes nos acampamentos. Gente que nunca tinha ido, por exemplo, para um protesto bolsonarista foi pela primeira vez num acampamento golpista e acabou ficando ali. Esses laços foram se fortalecendo. Outros jornalistas e pesquisadores salientam, várias das pessoas são idosas, que vivem sozinhas, que se sentiam ali valorizadas e socialmente incluídas nos acampamentos e ações. Muitas eram brigadas com as famílias e acabaram encontrando ali um suporte afetivo e social. Isso é muito importante. Pensando, inclusive, que muitas já foram presas ou vão ser presas. Foram acusadas. Esse tipo de solidariedade emocional tende a se fortalecer ainda mais porque vão passar por um período, não sabemos quantos anos vão ser, mas vão por passar um momento difícil na vida e a tendência é que isso se fortaleça.
Então, tem as duas coisas. O reforço de laços dos dois lados. E, no digital, se usa pseudônimo. Tudo isso contribui para esse sentimento muito forte de grupo. É óbvio que o financiamento dessas atividades é importante para a continuidade desses atos. Agora, só isso não explica. Porque num certo sentido essas pessoas são de fato ativistas ou vários deles terroristas mesmo, literalmente, e que fazem isso porque acreditam na causa. Isso é muito forte. E esse vínculo emocional, essa crença, que para vários é quase religiosa, é importante para explicar porque uma pessoa também vai ficar um mês acampada e cometer crimes.
— A gente fala do poder das redes sociais, mas a reunião presencial fez com que elas se radicalizassem ainda mais…
— Sim. Uma coisa impressionante: a Lilian Sendretti, pesquisadora do Cebrap, mapeou todos os eventos de protesto do bolsonarismo desde 2018 até hoje. É impressionante. Logo depois das eleições, o número de bloqueios de estradas chegou a mais de 1.400 registros. Imagina essas pessoas que fazem bloqueios… E um dos caminhoneiros, Zé Trovão, foi eleito deputado federal. É bom lembrar disso. Era um completo desconhecido. Agora, ficou conhecido por ter participado de uma ação dessas, de bloqueio de estradas, de tentativa de golpe. Isso foi em 2020, se não me engano, quando ele participou. Então, não só essas pessoas têm essa dinâmica emocional de reforço de crenças e tudo mais, mas dessa dinâmica saem novas lideranças. Isso é impressionante. O cara foi eleito deputado federal. É inacreditável.
— Então, o bolsonarismo não se limita a Bolsonaro…
— Exatamente. Novas lideranças vão sempre “pipocando”. E esses espaços de sociabilidade que acabam surgindo nesses atos golpistas, acampamentos, bloqueios e tudo o mais, fornecem novos quadros e novas lideranças.
— Bolsonaro foi uma figura fundamental para a radicalização ou nem isso, só acabou se aproveitando do efeito manada e conseguiu arrebanhar esse pessoal?
— Ele tem total responsabilidade pelo que aconteceu no sentido de que, basicamente, desde que se tornou candidato à Presidência, vem se utilizando desse recurso de mobilização. O bolsonarismo é um movimento político baseado em mobilização popular. Acho que isso é importante também deixar claro. Quer dizer, não é e nunca foi só uma coisa apenas midiática ou só nas redes. Não. Sempre teve uma mobilização forte de rua, protestos e tudo mais, a coisa do Sete de Setembro…
Ele sempre estimulou muito isso, e claro, ao mesmo tempo estava percebendo o que estava acontecendo em outros países do mundo. Então, para não ser, vamos dizer assim, explicitamente passível de ser condenado, sempre modulava o discurso de um jeito que dava a entender para as pessoas “não, olha, o que eu estou querendo mesmo é dar um golpe, vocês sabem”, mas sem falar isso, sem precisar falar isso.
Então, tinha toda essa coisa e as pessoas ficavam, a todo momento, tentando decodificar as falas do Bolsonaro. É muito interessante que, durante os acampamentos, em nenhum lugar você via o nome do Bolsonaro em faixas. As pessoas não falavam o nome dele. Conscientemente, elas não associavam o nome do Bolsonaro àquilo que estavam fazendo porque sabiam que Bolsonaro poderia ser preso. Sabiam que o Bolsonaro poderia ser responsabilizado e condenado. Então, já de antemão, faziam essa dissociação. Mas, claro, Bolsonaro sempre permaneceu como figura importante. Agora, uma coisa interessante, a despeito da influência do Bolsonaro, hoje, no Brasil, existe uma extrema-direita que é, em certo sentido, relativamente, autônoma.
Supondo que aconteça qualquer coisa com Bolsonaro que o tire da cena política, isso vai continuar. Porque tem outras lideranças e as crenças das pessoas são muito fortes, muito arraigadas. É impressionante.
— Não fica nem restrito ao clã Bolsonaro. Quer dizer, não é que um Bolsonaro vai herdar a liderança disso tudo…
— Exatamente. Mesmo se os filhos não forem, tem aí nem sei quantos… Inclusive, líderes jovens. Veja o Nikolas [Ferreira], por exemplo. Super jovem, foi eleito com uma votação impressionante.
— Nesse período ouvimos dois tipos de posicionamento: “Vamos defender a democracia” e “Vamos combater a extrema-direita”. O termo “combater” a extrema-direita é o ideal para o que é preciso fazer, para recuperar as pessoas para a realidade e fazer com que elas saiam dessas pautas com uma raiz na mentira?
— Prefiro sempre pensar em isolar a extrema-direita. “Combate”, eu acho que traz justamente essa noção de guerra que eles gostam e usam, essa guerra contra a esquerda, contra o mal… Então, se você fala que vai combater, reforça num certo sentido essa lógica de guerra. Eu acho que a ideia é que a gente isole a extrema-direita. Ao longo dos anos, à medida que for sendo isolada, ela vai diminuindo porque não tem espaço político, nem na mídia. Ela tem que ficar sem ar. Este é o lance. A gente tem que fazer com que isso não possa respirar mais porque o absurdo é que a extrema-direita foi normalizada e a gente tem que “desnormalizar” isso agora.
E daí a nossa grande dificuldade. Para isso, a gente vai precisar de uma união grande de políticos, o que é muito difícil de fazer no Brasil por conta desse clientelismo bizarro, um pragmatismo político de super curto prazo que os políticos têm. Vai ter que ser um esforço muito grande da gente, não só dos políticos, mas também como sociedade, para impedir, simplesmente, a circulação de certos discursos. Não vai ser só com prisões e com, literalmente, censura que a gente vai impedir. Há outras formas de responsabilizar as pessoas. Por exemplo, a própria ideia de multar ou fazer com que se retratem publicamente, dar direito de resposta. Então, quer dizer, eu acho que a gente já tem algumas formas de lidar com isso e vamos ter que criar novas ainda, e, com o tempo, ir abafando esse fenômeno.
— O antropólogo americano Benjamin Teitelbaum, autor de “Guerra pela Eternidade”, também estuda a extrema-direita e entrevistou Steve Bannon, Olavo de Carvalho e Alexander Dugin. Todos foram líderes de seitas. Esses grupos podem ser comparados com seitas?
— Sim. Vários grupelhos ali de fato devem funcionar como seitas. Isso é muito comum em qualquer tipo de movimento político extremista, seja direita ou esquerda. As pessoas acabam caindo nesse funcionamento. Para cometer crimes, para fazer coisas arriscadas, eventualmente, vergonhosas, você estaria disposto, eventualmente, até a ser expulso de casa pela sua família e romper laços. Você tem que estar imbuído de uma crença muito grande em alguma coisa. E é justamente isso que você está falando da seita faz muito sentido. Quer dizer, a pessoa está tão imbuída… É importante dizer que 10% da população é muita gente. Agora, não podemos achar que esses 10% funcionam como uma seita.
— O discurso de seita é muito forte e é a base dessa direita alternativa…
— Sim. Com certeza. Mas precisaria fazer uma pesquisa muito aprofundada para saber quantos de fato são seitas nesse sentido stricto sensu, e quantos desses 10% têm algum nível de crítica maior. Eu mesma passei os últimos anos entrevistando muitos eleitores do Bolsonaro, inclusive radicais e eventualmente mesmo entre os radicais tinha um nível de crítica. Não era uma coisa assim tão chapada. É isso que a gente precisa ter uma noção melhor.
— A chamada “grande mídia” acabou fazendo a normalização, por um sentimento de antipetismo, quando tentaram igualar Lula e o Bolsonaro. Se a gente olhar o passado, para o papel da imprensa, vale lembrar das coisas que a Globo fez e veio pedir desculpas 50 anos depois. A grande imprensa também não tem responsabilidade no processo de negação da política?
— Certamente. Pensando no que você falou primeiro, isso é uma coisa que ainda é frequente, mesmo entre pesquisadores, falar: “ah, existe uma polarização no país”. Não. Não existe uma polarização no país. O Lula ou o PT é não é comparável a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Não existe uma polarização. A gente pode dizer que tem uma divisão política no país. Tudo bem, de fato. Agora, polarização, não. Porque é isso que você falou. Não tem como, não faz sentido. Não são forças iguais, nunca foram e nunca vão ser. Mas a imprensa tem um papel nisso que aconteceu ao participar, inclusive se a gente for pensar a memória da gente acaba remetendo muito para a época da Lava Jato, mas se for pensar antes ainda, quando comecei a pesquisar a direita, vi como já estava lá atrás, na metade de 2005 e como coincidiu com a época do escândalo do mensalão.
Tem gente, inclusive, que fez estudos sobre isso, de como que a mídia reportava os escândalos do PT em comparação, por exemplo, com os do PSDB ou de outros partidos. São diferenças importantes. E isso começou quando eclodiu o escândalo do mensalão e depois se repetiu também durante o julgamento do mensalão, em 2012. Depois, com a Lava Jato, piorou ainda mais. E eu acho que tem dados da própria Perseu Abramo, se não me engano foi Gustavo Ventura, inclusive, que fez um texto sobre isso, era incrível, como as pessoas iam ficando desiludidas com a política e isso só foi aumentando. Você abria o jornal e tudo o que tinha sobre política era escândalo de corrupção. A pauta da corrupção, o próprio André Singer também mostra isso, passou a ser, em um determinado momento, em 2014-15, a principal preocupação dos brasileiros. Imagina? A gente tem fome, tem tantos problemas…
Hoje, diminuiu, mas ainda assim é forte o suficiente para mobilizar esse discurso antipetista, raivoso, mobilizar uma série de paixões e, com certeza, a mídia contribuiu para isso.
— A radicalização foi crescendo pelo advento das redes sociais ou se foi outra coisa?
— Olha, na verdade foi uma conjunção de fatores. Tem, com certeza, a popularização das redes sociais. Isso é um fator fundamental. Mas, desde 2005, esses grupos de extrema-direita estão circulando, agindo nas redes sociais e fora delas. Então, antes do Facebook era o Orkut e depois mudou para o Facebook. Tinha outros fóruns também. O próprio “four chan”, gente que fala inglês frequentava esses fóruns estrangeiros, norte-americanos. Então, isso já estava ali. Todo esse discurso já estava ali. Se você for ver em 2004, está tudo ali. Tudo o que o Bolsonaro fala. Olavo de Carvalho já dominava bastante esses canais. Agora, o que aconteceu foi que teve a popularização das redes sociais na mesma época que teve o julgamento do mensalão, na mesma época da Lava Jato, na mesma época em que a Dilma Rousseff ganhou a eleição.
Então, quer dizer, foi uma conjunção mesmo. A extrema-direita já vinha se espraiando digitalmente e aí popularizou as redes sociais. E isso virou uma coisa muito maior do que era lá. E acendeu essas paixões, todo esse discurso raivoso contra o PT. Juntou tudo e fez um caldo venenoso.
— A esquerda precisa correr para ocupar mais espaço nos meios digitais ou precisa se comunicar mais com a sociedade para tentar equilibrar a disputa narrativa?
— Sem dúvida. A esquerda precisa ter o que a gente pode chamar de capital digital, que a direita já tem e reuniu há muito tempo. Hoje, por exemplo, Bolsonaro continua como político mais influente nas redes sociais no Brasil. Tem isso, mas também tem a influência, vamos dizer assim, no cotidiano das pessoas. Por que se a gente for pensar, todo o trabalho que era feito pelo catolicismo de base nas periferias, foi substituído paulatinamente pelas igrejas evangélicas. Boa parte das igrejas evangélicas, hoje, acabou encampando o discurso bolsonarista porque coincidia com várias coisas que já usavam. Isso me preocupa muito porque é óbvio que a gente sabe que a maioria das pessoas que ganham acima de dez salários mínimos no Brasil vota no Bolsonaro — dois terços destes votaram agora em 2022. Mas isso não faz alguém ganhar eleições. No Brasil, a maioria da população é pobre. Então, quer dizer, quem são essas pessoas pobres, os trabalhadores que votam no Bolsonaro?
Boa parte da explicação está na frequência das pessoas aos templos evangélicos. Está no fato de que hoje a militância de base de esquerda meio que virou uma coisa muito rara de se encontrar, do que era lá nos anos 80 e mesmo nos anos 90. Então, certamente, é preciso fazer os dois movimentos. Hoje as mobilizações de esquerda, em comparação com as da direita, digo, as mobilizações de rua, são feitas muito mais por movimentos e organizações já há muito estabelecidos. E quando a gente olha, vê pouca gente, podemos chamar de pessoas comuns, que não é filiada a partido ou não é filiada a nenhum movimento social. E, na direita, você vê. Na direita, a pessoa vai lá porque acredita naquilo, ela entrou em um grupo de WhatsApp, curtiu e foi lá. Então, essa capacidade de mobilizar pessoas comuns, a esquerda acabou perdendo mesmo e a direita avançou. •