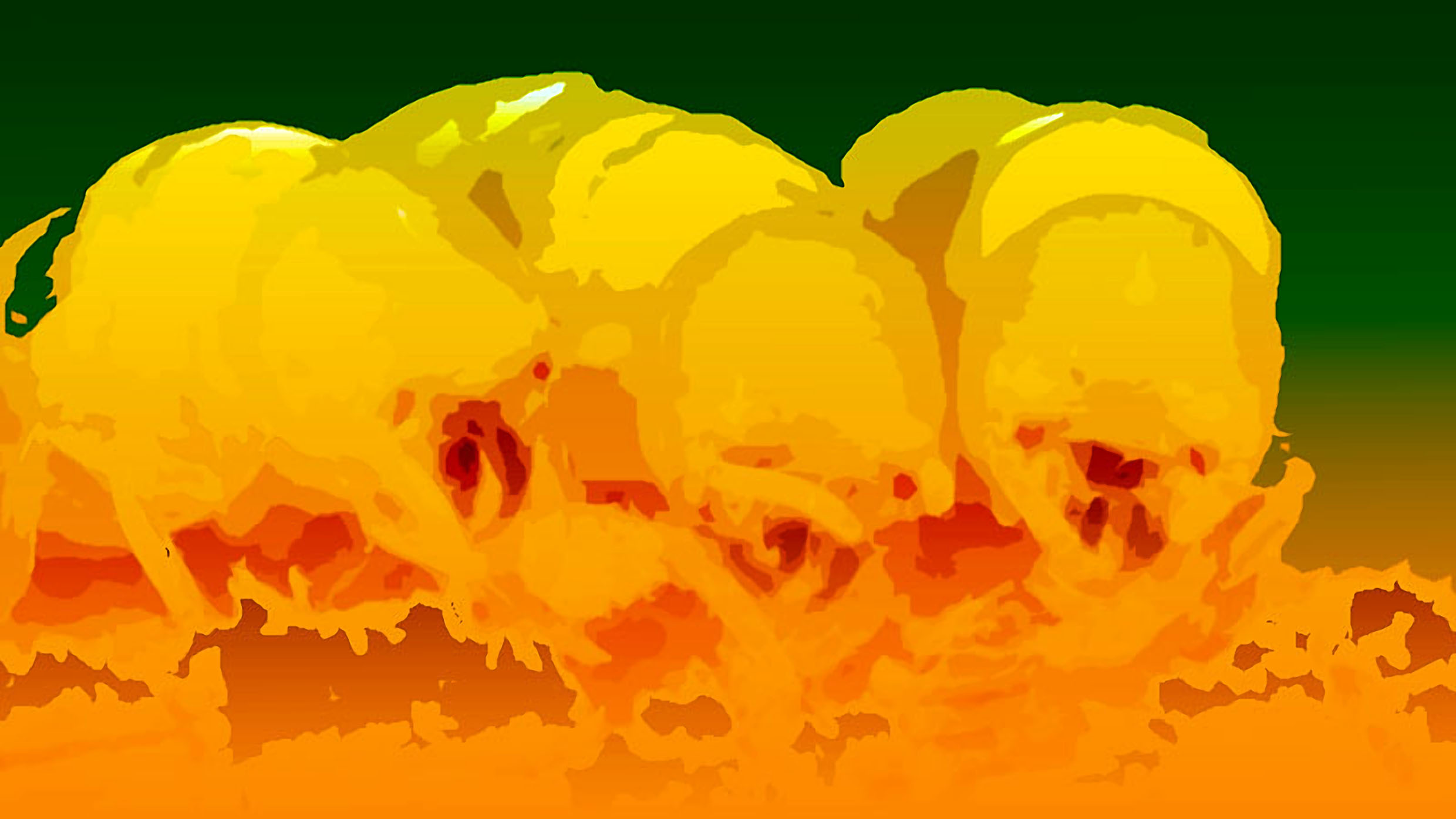Marília Mendonça e o lugar da mulher
A cantora e compositora, fenômeno da música sertaneja que morreu em um acidente de avião aos 26 anos, cantou as dores do empoderamento feminino recente
Li a seguinte inscrição numa porta de banheiro de um posto voltando de Campinas para São Paulo pela Rodovia Anhanguera: “Todo mundo é biscate ou corno”. A graça da generalização sobre a vida amorosa de 99,9% de pessoas acima dos 18 anos de qualquer gênero me fez soltar uma risada alta. Isso foi alguns anos atrás, no auge do sertanejo universitário, quando fazia semanalmente o percurso para dar aulas no curso de Jornalismo em uma faculdade privada da cidade do Noroeste do estado.
Vários de meus alunos eram capazes, ao mesmo tempo, de se encantar com “O Orfeu Negro” (filme dirigido de Marcel Camus, com roteiro adaptado da peça teatral “Orfeu da Conceição”, de Vinícius de Moraes, em 1959) na aula na quarta-feira e irem nas populares festas de peão ouvir duplas sertanejas semi-desconhecidas — para a grande maioria dos moradores das grandes cidades — no final de semana.
A facilidade com a qual aquela geração 30 anos mais nova que eu, alfabetizada na internet e com acesso a serviços de streaming de música e vídeo, passeava entre registros culturais aparentemente tão distintos me deixava um pouco desnorteada.
Isso fazia parte de um enorme elitismo e ignorância de minha parte, é evidente. Não compreendia as raízes rurais de muitos daqueles alunos, nem o fascínio que aqueles adolescentes e jovens adultos tinham pela sociabilidade dos rodeios e festas afins. Com um pouco de paciência e alguma curiosidade, passei uma vez um final de semana ouvindo vários shows e clipes.
Além de tudo o que se pode intuir de território livre para a diversão, pegação e bebida, as letras daquelas duplas descreviam, como muitos gêneros musicais de origem popular que se prezem, os rituais das relações amorosas: a corte, o enamoramento, o ciúme, a traição, o desengano e o fim do amor.
A minha incursão neste mundo foi breve e, embora eu não tenha exatamente gostado de tudo o que vi e ouvi, pelo menos me fez mais tolerante. Afinal, dores e alegrias do amor podem ser cantadas e escritas de muitas e muitas formas.
A sofrência, vertente temática de gêneros como arrocha, sertanejo e do brega, que trata apenas das dores do amor — da parte corno da inscrição citada acima — veio meia década mais tarde. E naquele momento, provavelmente Marília Mendonça era ainda uma menina em idade escolar. Mas ela já compunha e cantava na igreja.
Mendonça passou a se apresentar em bares ainda adolescente, com composições próprias e voz grave. Num gênero cujos cantores homens se apresentam, em geral em duplas, e se esforçam para atingir agudos que conferem a melancolia dos espaços abertos do campo e a solidão do homem ligado à terra, uma menina com voz grave e que, além de tudo, compunha, não apenas chamava a atenção como era de fato era uma coisa nova.
Não que não houvessem mulheres antes de Marília Mendonça no sertanejo. Mas certamente eram poucas as vozes que vinham com uma autonomia e uma assertividade sobre o lugar e o papel da mulher que, aí sim, eram tão inauditas que cunharam um neologismo: o “feminejo”.
Como todos os nomes que pegam, alguma havia nessa geração que inclui ainda a dupla Maiara & Maraísa, Simone & Simaria e Naiara Azevedo (aquela do “Toma aqui 50 reais”). Elas passaram a falar para um público amplo, sobretudo feminino, que o lugar de subordinação e submissão já não fazia parte da experiência dessas adolescentes e mulheres.
Letras como a de “Supera”, que emula uma conversa entre amigas — “Pra você isso é amor/ Mas pra ele isso não passa de um plano B/ Se não pegar ninguém da lista, liga pra você/ Te usa e joga fora/ Se ele não te quer supera/ De mulher para mulher supera” — ou “Todo Mundo Vai Sofrer”, com um dos refrãos mais sintéticos talvez da música popular brasileira — “Quem eu quero, não me quer/quem me quer, não vou querer/ Ninguém vai sofrer sozinho/ Todo mundo vai sofrer” —, os versos surpreendem pelo capacidade de comunicação imediata e, importante, pelo grau de empoderamento que sugestiona. E não sem humor.
A chave do feminejo, dominado por estas mulheres nascidas nos anos 1990, é muito semelhante a catarse de cantar aos berros em shows do Legião Urbana que, sim, era possível gostar de meninos e meninas, e que tanta emoção teve para os que eram adolescentes (ou ainda muito jovens) nos anos 1980, como eu.
Do lançamento oficial da carreira aos 18 anos à morte em acidente de avião no último dia 5, decorreu menos de uma década. Nesse meio tempo, Marília Mendonça lançou quatro discos solo — “Marília Mendonça: Ao Vivo (2016)”, “Realidade (2017)”, “Todos os Cantos (2019)”, “Nosso Amor Envelheceu (2021)” e três álbuns colaborativos com Maiara & Maraísa: “Agora é que são elas” (2018), “Patroas” (2020)” e “Patroas 35%” (2021)”.
O álbum “Todos os cantos”, registro de um projeto que começou com shows gratuitos e de surpresa em várias capitais do Brasil, garantiu a ela o Grammy Latino em 2019. Inquieta, Marília também procurou parcerias além do quadrado do sertanejo. Com Anitta, gravou “Some que ele vem atrás”. E, com Gal Costa, “Cuidando de longe”.
Hábil tanto na produção dos clipes como nas redes sociais, Marília Mendonça acumulou recordes. Em 2017, foi a mulher mais ouvida pelos brasileiros nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e YouTube, alcançando nesta última o 13º lugar. No primeiro ano da pandemia, fez a maior live do Youtube no mundo, que atingiu 3,3 milhões de visualizações simultâneas.
A desenvoltura da artista com seu público se mostra nos primeiros segundos da transmissão. Tocando um berrante, uma moça linda e sorridente começa o show dizendo: “Quero convocar todos os gados do Brasil — e do mundo! — que hoje todo mundo vai sofrer!!!”.
A morte trágica, injusta, de acidente de avião em Piedade de Caratinga, Norte de Minas Gerais, deu um desfecho abrupto para uma artista que ninguém sabe para onde iria. Arrisco a dizer que, no mínimo, Marília poderia alçar o sertanejo a um novo lugar, não do mercado, mas na cultura brasileira.