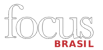Era uma vez no Ocidente
*Luiz Marques
Para um antigo hebreu, a pergunta “Você acredita em Deus” equivalia à indagação “Você tem fé em Jeová?” Não indicava um problema intelectual, mas uma equação relacional. Os pré-modernos não se sentiam interpelados pela dúvida sobre a existência da divindade, diferente dos modernos em um período em que a vida nunca valeu tão pouco. O século XX, por expelir lavas de extermínio aos borbotões e contabilizar milhões de óbitos desnecessários, foi um matadouro em escala industrial.
Em época de desvalorização prática da vida, na Europa, é fácil supor que a filosofia existencialista espelhou as angústias provocadas pela Grande Depressão após a Primeira Guerra Mundial (Martin Heidegger, O Ser e o Tempo, 1927) e ao final da Segunda Guerra (Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada, 1943). As elucubrações sobre o “ser-aí” vêm à luz quando os papéis, as crenças e as convenções estabelecidas entram em crise. Com novos métodos, o desprezo pela vida ressurgiu nos anos 1980 com a hegemonia do neoliberalismo. A necropolítica é a continuação do absurdo por outros meios.
Nas palavras de Terry Eagleton, em O sentido da vida: “No clima de pragmatismo e malandragem de rua característico do capitalismo pós-moderno mais avançado, de ceticismo em relação a grandes narrativas e sínteses abrangentes, de desencanto com tudo que é metafísico, a vida é mais uma dentre as totalidades que perderam o crédito”. Leia-se a nação, a religião, a justiça, a política, a educação. A formação da identidade desceu dos temas superlativos para o consumo individual. As dimensões sociais da vida pública foram relegadas ao privado. O imperativo categórico derreteu.
Entre nós, a nação ao revés de realizar os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade virou entreposto comercial de commodities para o agronegócio. A religião, que por milênios colonizou o poder central e formatou ideologias, se reinventou no fundamentalismo obscurantista da teologia de domínio, com a espada. Olho por olho, dente por dente. O Primeiro Testamento bíblico venceu.
A justiça foi instrumentalizada pelo dinheirismo da magistratura, manipulou a opinião pública com o lawfare e abjurou Têmis. A política foi capturada por emendas secretas no orçamento da União. A escola pública converteu-se num ativo privatizável (SP, MG, PR, RS), onde medíocres governantes acenam a liquidação do patrimônio estatal na disputa pelo prêmio de entreguista N° 1 para angariar apoio das “elites”, nas próximas eleições. A infâmia cora frades de pedra, não cínicos. Não se trata de elogiar as condições do passado, mas de formular a crítica aos condicionamentos do presente.
As evidências da barbárie
A pós-modernidade pôs em xeque os valores que uniam as partes de forma orgânica ao todo. A racionalidade foi rebaixada ao autointeresse e ao cálculo dos benefícios pessoais. A moralidade passou a ser objeto de fórum íntimo, sem correspondência pública. A busca do prazer acabou por sobrepujar o desejo de reconhecimento social. A idolatria da mercadoria arrebatou as mentes e os corações. Porém não supriu o vazio que encobre as terras, engolfa os céus e mina as consciências.
O entendimento original do termo “indivíduo” (indivisível, inseparável de) murchou no processo de sua independentização das instituições. A própria noção de sentido foi colocada sob suspeição, por transmitir a ideia de que uma coisa pode representar outra. Nos dias atuais, as interpretações foram descartadas. As alegorias sumiram da paisagem. As individualidades padecem da fragmentação.
Para ilustrar com um escândalo, os golpistas brasileiros se defendem da acusação de tentar destruir o Estado de direito democrático, alegando que a minuta de um golpe é apenas uma inocente escrita. Não está articulada com ações, pronunciamentos e manifestações. Os significantes se bastam. Não abrigam significados ocultos à espera da decodificação esclarecedora. Para Terry Eagleton: “Uma sociologia positivista e uma psicologia behaviorista, aliadas a uma ciência política míope, vieram consagrar a traição da intelligentsia (conservadora)”. Quanto mais as ciências humanas se adaptam à economia, mais deixam de lado a investigação profunda de temas fundamentais para a sociedade.
O simbólico se dissociou do empírico. A privatização jogou no ralo os sentidos do real. Naturalizou a desindustrialização, a precarização do trabalho, o desequilíbrio ambiental, o racismo, o sexismo, a transfobia, a aporofobia, o negacionismo cognitivo. Aos trabalhadores em situação de rua, coube a regressão ao estágio das cavernas urbanas improvisadas com sucatas. Eis as evidências da barbárie.
Na grama das arenas contemporâneas, tribos selvagens ocupam o lugar das classes sociais junto às massas para expor as paixões da xenofobia (“Abre os Olhos, Japonês!”) e do supremacismo (“Olé, Olé, Olé, Vini Chimpanzé!”). Hoje o futebol é o ópio do povo. Os templos são o crack da periferia. O Zeitgeist reconhece sua criação nas arquibancadas belicosas entre o júbilo e a maldição de si.
Felicidade – prática social
Os pós-modernos não recordam o tempo em que havia verdade, sentido. Sua sensatez implodiu com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991. A frase emblemática dos últimos cem anos era “Todo poder aos sovietes”, a qual complementava a célebre declaração “Deus está morto”. Com o fim dos terríveis pesadelos siberianos, a unipolaridade imposta pelo imperialismo estadunidense procurou parar a roda da história. Com a ignóbil derrota da utopia, o slogan dos think thanks neoliberais “Todo poder ao livre mercado” saudou as desregulamentações e as finanças.
O ufanismo continha a promessa demagógica de prosperidade; descumprida. A democracia recebeu então o adjetivo de iliberal, caracterizando-se pelo oxímoro. O autoritarismo é guardião do sistema que alimenta a acumulação rentista, com total indiferença. Como no poema visionário de T. S. Eliot: “Num mundo apenas de especulação / O que poderia ter sido e o que foi / Convergem para um só fim, que é o presente. // Absurdo o sombrio tempo devastado / Que antes e após seu rastro alastra”.
Não obstante, o ânimo dos progressistas rompe as ilusões do quietismo e interrompe a trajetória do fascismo, com o laço que liga a ética à política no combate às fake news da mídia corporativa. O companheirismo confronta o ódio, ao abrir as janelas da esperança. Ao promoverem mudanças no mundo, os Brics sinalizam a “vontade de potência” ao século XXI. Sobrevivemos ao canibalismo que nos reduzia aos contentamentos particulares. A felicidade é uma prática social, um modo de agir que suscita disposições para compartilhar, lutar e superar os obstáculos que impedem o bem-estar do coletivo. Porque alegria do encontro com a humanidade espanta a prostração, a solidão, o medo.
Se o prazer é a sensação passageira que até os fascistas podem usufruir, a felicidade é duradoura na perspectiva baseada na concepção do homem como “zoon politikon” (animal social). O desafio é nos tornarmos bons em ser humanos, na técnica virtuosa de viver. A felicidade não é um predicado pessoal e não depende de bens materiais de luxo. A psicanálise popular na Casa da Árvore (Rio de Janeiro), Casa dos Cata-Ventos (Porto Alegre) e praças públicas do país auxilia os marginalizados a reaver sua subjetividade para ir além do caos psíquico&sistêmico. Nesse “mundão”, muitas veredas levam à solidariedade pois “o mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”.
Pesquisas sobre a geração Z, nascida entre 1995 e 2010, mostram níveis elevados de infelicidade: (i) pelo uso excessivo da tecnologia, jogos eletrônicos, redes digitais; (ii) pela pressão de se ajustar aos padrões de beleza e sucesso dos influencers na internet e; (iii) pela incerteza econômica e a falta de horizonte profissional. A hecatombe climática e as desigualdades sociais aguçam um isolamento nos jovens. Mas a chama de sua rebeldia indômita permanece acesa, atenta aos acontecimentos. A heteronomia na definição de fora para dentro dos rumos da existência adoece as almas, não as cala. Parafraseando o filme do diretor Walter Salles, premiado no Oscar – “a juventude ainda está aqui”.
Desta, um dia se ouvirá sobre as aventuras do capital contadas, assim. Era uma vez no Ocidente.
* Docente de Ciência Política na UFRGS; ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul
Este é um artigo autoral. A opinião contida no texto é de seu autor e não representa necessariamente o posicionamento da Fundação Perseu Abramo.