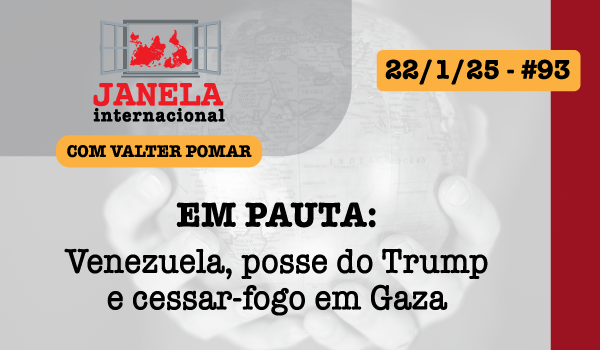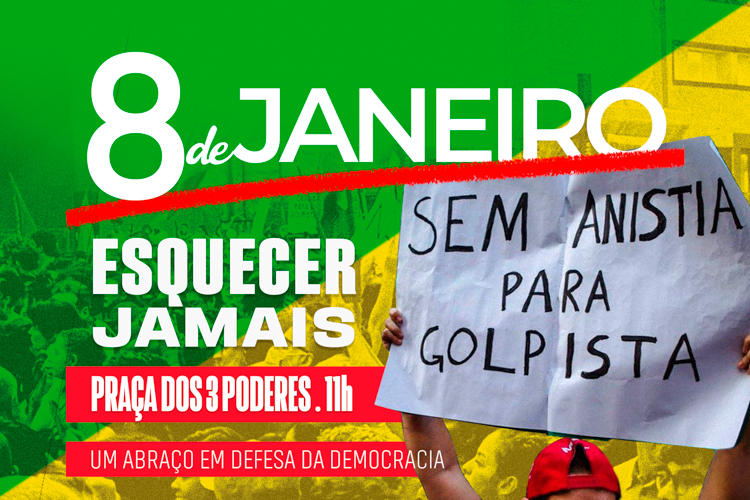Há vida fora da democracia liberal
Politicamente o princípio guia da democracia é a cidadania, a qual implica o direito de cada ser humano ser tratado pelos outros como igual no que concerne a formação das escolhas coletivas e a obrigação de os governantes serem responsáveis diante do conjunto dos membros da sociedade. Por esse critério democrático e republicano, até hoje nenhuma democracia ou república preencheu todas exigências. As mulheres seguem com representação política inferior à sua densidade demográfica.
A democracia estadunidense não contempla o voto com peso idêntico. Na votação entre delegados dos partidos majoritários na Confederação, quem vence a batalha ganha a totalidade dos votos correspondentes à unidade confederada. Em 2016, a candidata Hillary Clinton teve mais votos entre os eleitores durante a campanha do que Donald Trump e, mesmo assim, somou menos delegados. A antiga engrenagem foi montada pelos “fundadores da nação” e garante certo controle do processo. Para C. Wright Mills, a “elite no poder” nos EUA é constituída pelo complexo político-industrial-militar. Esse poder oculto, de fato, jamais é escrutinado qualquer que seja a modalidade de escolha.
O conceito de “democracia liberal” serve de paradigma aos países ocidentais, o que para o autor de O choque de civilizações, Samuel Huntington, não inclui a América Latina. Significa que apenas duas formas de governo têm reconhecimento e legitimidade no Ocidente: o presidencialismo e o parlamentarismo. As variações entre os dois refletem as nuances institucionais abrigadas sob o mesmo construto conceitual. Se não existe um único modelo performático de governança, no entanto, existe um paradigma sólido assentado na representação política. Nele, não há lugar para conselhos gestionários com atribuições deliberativas sobre as diretrizes e investimentos da União.
A dificuldade aparece quando somos instados a fazer um juízo de valor sobre regimes políticos que não se enquadram na régua paradigmática, ou por não contar com diversos partidos competitivos (os EUA contam com dois); ou então por dispor de modos distintos na configuração das escolhas coletivas, conforme acontece na China, Cuba e Venezuela. A simplificação teórica que confina a democracia à moldura liberal, com periodicidade garantida no calendário eleitoral, liberdade de organização partidária e de expressão atenta para o respeito às “regras do jogo” (Norberto Bobbio) e às “normas procedimentais” (Alain Touraine). A dimensão social do regime não entra em questão.
Nas regiões hegemonizadas pelo livre mercado, a tendência é considerar “ditadura” a inexistência de um pluralismo expresso no espectro dos partidos, bem como a ingerência estatal na dinâmica da política, da economia e da cultura. A democracia moderna engavetou a democracia ateniense do século V a.C., baseada na participação direta em assembleias nas praças públicas (ágoras), modelo que fez sua última aparição na Revolução Francesa sob a batuta dos jacobinos. A ocidentalização da democracia exprime um caráter politicista; promove o descolamento da política das demais esferas.
O politicismo minimiza a importância da participação popular na condução dos negócios do Estado e, por extensão, o próprio ato de votar. A obrigatoriedade do voto restringe-se: na Ásia, a Singapura e Tailândia; na África, ao Congo, Gabão e Egito; na Oceania, a Austrália, Nauru e Samoa; na América do Norte, ao México; na América Central, a Honduras, Panamá e Costa Rica; na América do Sul, ao Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai e Uruguai. O individualismo apolítico induz a ideia de que a participação é desnecessária. As instituições se resolveriam, sem a sua voz.
Nesta perspectiva, a participação cidadã não passaria de um mito. Afinal, o sistema funciona com meros 30% de intervenção dos votantes, dispensando outros mecanismos para uma construção da opinião pública. Ao revés, o excesso de participação coloca em perigo a democracia por acrescentar compromissos ao rol da atividade política, e acirrar a luta de classes. Visão em contradição com a dos socialistas, para os quais a soberania popular supõe mobilização para conter a extrema direita.
O ex-presidente da Associação Internacional de Ciência Política e professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris (Science Po), Jean Leca, identificava a procedência intelectual dos colegas pelo volume de citações do termo “representação” e “participação”. Num caso, eram norte-americanos ou europeus; noutro, latino-americanos. Para estes, um padrão de governabilidade alternativo aos convencionais têm sinal positivo e desejável. Sem pressão, as coisas não acontecem no Sul global.
É desejável a introdução e a institucionalização de um participacionismo conselhista, cuja ilustração famosa por sediar a edição que inaugura o Fórum Social Mundial (FSM, 2001) é o Orçamento Participativo, de Porto Alegre. Um experimento capaz de conjugar as democracias representativa e participativa, ao menos num período de relativo equilíbrio de forças. Não obstante, diferente do teorizado pelo marxista austríaco Max Adler – na “Viena Vermelha” dos anos vinte – com soviets dissociados de uma conjuntura revolucionária, em pleno voo meteórico da hegemonia neoliberal.
Na América Latina, historicamente, o Estado esteve de costas para as necessidades da esmagadora maioria da população. Em uma pesquisa realizada na primeira década do século, em curso, sobre se o Estado apoiava mais os ricos ou os pobres, somente em um país sul-americano mais de 50% dos entrevistados afirmou que a preferência estatal tendia para os pobres: a Venezuela, então governada pelo presidente Hugo Chávez. O Brasil do presidente Lula 1.0 não ultrapassou a linha divisória.
Entre nós, o que se destaca no imaginário nacional é o medo das classes dirigentes, condensado na noção pejorativa das “massas”, cuja mobilização é encarada como manipulada dada a incapacidade que os subalternizados teriam de formar uma consciência autônoma, em função do baixo nível de escolaridade. Basta recordar que o direito ao voto foi estendido aos analfabetos recém em 1985, por uma emenda à Constituição de 1967. Os anátemas atirados contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva eram de “cachaceiro” (por aporofobia) e “analfabeto” (por elitismo), na falta de um título universitário. Como no verso de Caetano Veloso: “Narciso acha feio o que não vê no espelho”.
Para Paulo Nogueira Batista Júnior, a “Venezuela enfrenta o Império e a crise é consequência das sanções”. Aos embargos, hoje, soma-se o roubo das reservas em barras de ouro depositadas nos cofres subterrâneos do Banco da Inglaterra, e avaliadas em US$ 2 bilhões. O Reino Unido não permite o acesso ao governo venezuelano. A questão está nas mãos da Justiça britânica. O cerco à nação hermana começa na estatização da petroleira nacional, o que internamente enfureceu a “burguesia sacoleira” sem projeto de industrialização para formar um mercado interno inclusivo. Externamente confrontou os interesses além-mar do setor, que foram se queixar em Washington.
“O povo e os trabalhadores vão demonstrar como agora seremos mais eficientes na administração de nossa indústria (petroleira) e dos serviços relacionados a ela”, discursou Hugo Chávez no Lago de Maracaibo, um dos principais polos petrolíferos do país, em 9 de maio de 2009; na data, foram incorporados 8 mil novos funcionários públicos. O dinheiro economizado com a estatização de 60 empresas ligadas à produção de petróleo como prestadoras de serviços, 300 embarcações e 39 terminais utilizados para o transporte ficou a cargo dos “conselhos comunais”. Organismos para a participação popular não previstos na concepção política ortodoxa. Na acepção rousseuaniana, a participação-processo-decisão recusa a divisão social do trabalho para restaurar o espaço dos iguais.
Contestadas pela mídia corporativa, as eleições presidenciais na Venezuela têm um solo histórico que concerne à geopolítica e à ideologia: ali se concentra a maior reserva de petróleo do mundo e se desdobra uma forma de governo inovadora. Há vida fora da democracia liberal. O fundamental é acatar o princípio de não interferência em assuntos internos de terceiros e o direito de estabelecer a soberania popular em sua autodeterminação. O resto é demagogia dos que se creem xerifes, fazendo jogral com a lógica imperialista e o senso comum fabricado por interesses inconfessáveis. O Brasil, a Colômbia e o México cobram as Atas de Votação, mas devem estar cientes de que a oposição violenta e antidemocrática não as aceitará, como nas trinta vezes em que perdeu a partir de 1999.
Luiz Marques é docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Este é um artigo autoral. A opinião contida no texto é de seu autor e não representa necessariamente o posicionamento da Fundação Perseu Abramo.