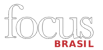Brasil: revistando o tema da suposta “nova classe média”
O desafio central consiste na sustentação de um crescimento vigoroso capaz de gerar empregos mais qualificados para estratos médios da população
Desde 2004, o Brasil vive um processo inédito de crescimento econômico com redução da pobreza. A recente incorporação de milhões de brasileiros ao mercado interno de consumo vem sendo reconhecida como importante conquista econômica e social, em tempos de severa crise internacional. Este fato vem sendo apregoado como a emergência de uma nova classe média no país. O que há de verdade e ficção nesse discurso?
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, a última década rompe com o padrão histórico da industrialização nacional, pelo qual o dinamismo econômico, quando ocorreu, sempre aprofundou as desigualdades sociais. Assim, entre 1960 e 1970, enquanto o ritmo de expansão da renda per capita atingiu o crescimento médio de 4,6% ao ano, a participação do rendimento do trabalho na renda nacional caiu 11,7% (Comunicado nº 104, 2011).
Já no período 1981-2003, a renda do conjunto dos habitantes manteve-se praticamente estagnada (com variação média anual positiva de apenas 0,2%), mas a participação do rendimento do trabalho na renda nacional reduziu-se em 23% e pioraram significativamente os indicadores de desemprego e pobreza.
Desde 2004, contudo, o padrão muda, e a expansão da renda dos brasileiros coincide com a melhoria da situação geral do trabalho (ampliação da taxa de ocupação da mão de obra, formalização do emprego e redução da pobreza), o aumento da participação do trabalho na renda e o declínio da desigualdade. Cabe perguntar: quais as causas dessa mudança, única na nossa história econômica?
Uma interpretação correta, pois confirmada pelos fatos, é atribuir esse comportamento positivo do mercado de trabalho a quatro fatores. São eles:
- O dispêndio público (o dos bancos públicos em primeiro lugar), fortalecendo os mecanismos de crédito interno
- Os programas de transferência de renda e seus efeitos multiplicadores, principalmente em áreas e setores deprimidos
- A retomada do crescimento econômico a partir de 2004, sustentado em boa medida pelos investimentos públicos alavancados pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – e alicerçados no mercado interno, e
- A política de valorização do salário mínimo, que permitiu crescimento real do seu poder de compra e elevação consistente da base da pirâmide salarial.
Outra visão, mais conservadora, credita à modernização da economia brasileira – a adoção de critérios neoliberais de abertura, desregulamentação e privatização – ocorrida a partir da década de 1990, o destravamento do mercado e a plena exposição da economia brasileira aos ventos da globalização (aliás, é surpreendente depararmos com leituras desse tipo em face da crise mundial derivada das finanças desreguladas…). Semelhante dinamismo teria despertado o “espírito empreendedor” de nossa gente e provocado o surgimento de uma “nova classe média” no Brasil atual. Decorre desse ponto de vista a identificação dos riscos aos eflúvios positivos da nossa estrutura social: o gasto público – supostamente excessivo e descontrolado – e o intervencionismo estatal. Essa mesma visão conservadora faz alarde do termo “nova classe média”, o qual não figura nos documentos e análises do IPEA (ao menos naqueles produzidos até a mudança na presidência do Instituto, em julho deste ano), já que nos parece indevida sua utilização à luz dos dados existentes. Aliás, o conceito carece de precisão, com pouca base teórica ou empírica para sustentar as definições.
O mesmo IPEA demonstra claramente que grande parcela dos postos de trabalho gerados na primeira década de 2000 concentrou-se na base da pirâmide social, pois 95% do saldo líquido das vagas abertas no período tinham remuneração mensal de até 1,5 salários mínimos. Já no segmento dos ocupados pertencentes às faixas de 1,5 a 3 salários mínimos houve a geração anual de ¼ dos postos de trabalho criados no segmento de até 1,5 salários, o que não deixa de ser também expressivo. Contudo, nas faixas dos trabalhadores sem remuneração e dos acima de 3 salários mínimos houve destruição líquida de ocupações. Que conclusão tirar desses números?
É simples: na primeira década do século XXI – mais precisamente, ao longo de sua segunda metade – ocorre um achatamento da pirâmide salarial, pelo crescimento significativo do rendimento do trabalho e das ocupações formais no segmento dos trabalhadores de base. Simultaneamente, observa-se estagnação na criação de empregos para as faixas acima de 3 mínimos, faixas estas cujos rendimentos começam a se aproximar do que se poderia compreender como classes médias, e não o segmento de renda per capita entre R$ 250,00 e R$ 1000,00, como o faz, paradoxalmente, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República – SAE/PR, a qual o IPEA está institucionalmente subordinado.
O que ocorre, na verdade, é o deslocamento importante da dinâmica do mercado de trabalho na direção dos serviços, acompanhando a tendência confirmada pelos novos padrões de funcionamento da economia contemporânea, em detrimento dos empregos industriais, submetidos a processos severos de reestruturação produtiva. Os serviços concentram um conjunto heterogêneo de ocupações. Das mais qualificadas e bem pagas a todo um conjunto de empregos de vencimentos próximos ao nível do salário mínimo. Pois foram as ocupações de salário de base pertencentes ao setor terciário, da construção civil e da indústria extrativa aquelas que experimentaram maior incremento, respondendo de forma incisiva aos estímulos originários, em larga medida, do gasto público e da nova inserção do Brasil no comércio internacional, exportando commodities para os países asiáticos. A disponibilidade do crédito interno irrigou os canais do consumo. Bens duráveis, e gastos com viagens e entretenimento, estão entre os itens mais disputados. Assim, parcela considerável da força de trabalho conseguiu superar a pobreza, “transitando para o nível inferior da estrutura ocupacional de baixa remuneração, porem, não mais pobre, tampouco de classe média”, afirma enfaticamente o IPEA.
O desafio central, doravante, consiste na sustentação de um crescimento vigoroso capaz de gerar empregos mais qualificados para estratos médios da população, mantendo a incorporação dos segmentos de menor renda e evitando uma nova polarização salarial no país, composta por extremos de altos e baixos rendimentos, como as atuais informações do mercado de trabalho parecem indicar. Para isso se requer, sobretudo, gasto público de qualidade e o reforço das políticas de desenvolvimento de corte regional. Ressalte-se, por fim, que a redistribuição observada ocorre no âmbito dos rendimentos do trabalho, pois a parcela do PIB abocanhada pelos segmentos rentistas e pelos que vivem dos lucros da propriedade imobiliária e dos meios de produção apresentou significativo aumento no mesmo período.
Para o amplo entendimento do tema, no viés analítico adotado no presente artigo, recomendamos a imprescindível e contundente análise do sociólogo mineiro Jessé Souza, em especial no livro Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? (Belo Horizonte, UFMG, 2010). Também o ensaio produzido pelo ex-presidente do IPEA, Marcio Pochmann – Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira (São Paulo, Boitempo, 2012) – aporta dados e elementos elucidativos, além de desvelar – na introdução da obra – o que está por trás das visões divergentes sobre o fenômeno presentes nas interpretações governamentais: “O adicional de ocupados na base da pirâmide social reforçou o contingente da classe trabalhadora, equivocadamente identificada comio uma nova classe média. Talvez não seja bem um mero equívoco conceitual, mas expressão da disputa que se instala em torno da concepção e execução das políticas públicas atuais”.
*Ricardo Carlos Gaspar é Professor do Departamento de Economia da FEA-PUCSP. Coordenador do Curso de Especialização “Economia Urbana e Gestão Pública” (COGEAE-PUCSP).