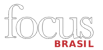Desenhando a desordem
Desenhando a desordem: experiências e disrupções na cidade, assinado pelo sociólogo Richard Sennett e o urbanista Pablo Sendra, é um livro sobre a captura das cidades pelo mercado imobiliário que, por “progresso”, subentende empreendimentos sem a participação cidadã. Os autores propõem um planejamento urbano mais resiliente e inclusivo. O lema “Projetar a Desordem” é o contraponto à lógica da financeirização de ocupação predatória nas áreas urbanas, pelas grandes corporações.
O planejamento capitalista é feito com a gentrificação, a eliminação das alteridades. Nele, imperam ditames autoritários. Prefeituras sob tacão do capital endossam os privilégios dos homens brancos, héteros e cristãos que sequestram a cité, seus equipamentos e códigos sociais. A ralé sobrevive na ville em ruas e casas denominadas vilas, mocambos, malocas, quebradas, baixadas, ressacas, grotas, palafitas, loteamentos clandestinos. O IBGE contorna o espectro dos estigmas ao ressignificar as Favelas e introduzir no discurso a expressão Comunidades Urbanas, para reeducar a linguagem.
A sociedade civil para superar os preconceitos e os padrões dominantes necessita olhar para fora dos condomínios murados, onde se sente segura. A cidade deve propiciar meios para que cada um se torne um cidadão-cosmopolita, capaz de um diálogo com os “estranhos” para romper a máxima de que alguns são mais iguais do que outros, sem a obrigação de justificar regalias antirrepublicanas.
Ou a urbanidade se petrifica e corrompe e as aglomerações mistas cedem aos bairros homogêneos, higienistas. A comparação com o século XIX é ilustrativa. Então, metrópoles europeias continham empregados que moravam no local de trabalho e frequentavam os bares e os restaurantes baratos. O pequeno comércio supria famílias prósperas. Não havia ainda separação espacial entre as classes.
A partir de 1870, as classes médias e a aristocracia operária geram colônias em novos banlieues. Já o proletariado industrial se aglutina em barracões degradantes junto às fábricas. Surgidos após a II Guerra Mundial, os subúrbios se assemelham às cidades-dormitório, sendo puramente residenciais. O zoneamento se desenrola com o avanço de legislação própria, na esteira dos Planos Diretores.
Mas o poder econômico deixa cicatrizes. As cidades não oferecem serviços públicos eficientes para a população. A descrição de Lewis Mumford na sua obra clássica se mantém atual: a cobiça mira “os terrenos e quarteirões como unidades abstratas destinadas à compra e venda, desconsiderando os usos históricos, condições topográficas ou necessidades sociais”. A pregação do neoliberalismo sobre a “liberdade” manipula os sistemas burocráticos fechados para um ganho privado das elites.
As gaiolas de ouro dos empreendedores imobiliários agem como cupins do bom senso. As ilhas de felicidade e prosperidade, na publicidade, são ilusórias. O contrapeso exige um tipo diferente de sistema social, com intersecções na fronteira entre bairros para não aprofundar a dicotomia entre a “cidade formal” e a “cidade informal”. A imagem sublinha a metáfora do “centro” e da “periferia”.
Há que se opor ao despotismo da urbe neoliberal e promover futuros alternativos às comunidades. Elas combatem a austeridade, a má gestão, a carência absurda de investimentos em habitação social. Demandam a preservação dos bens públicos e instalações educacionais para as atividades coletivas. Em consequência, constroem os sujeitos culturais e políticos para uma transformação da sociedade.
Projetar a desordem
As periferias não se restringem à pobreza e ao caos; são espaços de espontaneidade, adaptabilidade e criatividade. Vide a pesquisa coordenada por Sandra Jovchelovitch e Jaqueline Priego-Hernández, Sociabilidades subterrâneas: identidade, cultura e resistência em favelas do Rio de Janeiro. As assimetrias anseiam por um desenvolvimento urbano tendo por epicentro uma qualidade do viver.
A “desordem” não implica formas arquitetônicas irregulares, como o pós-modernismo pretende em resposta ao modernismo de Le Corbusier. Implica, sim, a recusa do controle social e recursos para elaborar projetos autônomos que combinem a descentralização e o localismo com a expansão de pessoas atuantes, como planejadores urbanos. Uma governabilidade horizontal e democrática, de postura não hierárquica, é o que se pode designar uma feminização da política; pela ênfase posta na discussão, uma grande conquista. A masculinização da política acentua o arbítrio e a força bruta.
Ao pensar o espaço público como processo aberto à experimentação, a planificação recebe um aval dos usuários, oportuniza um ativismo social e inovações que aperfeiçoam os logradouros de lazer. As infraestruturas cooperativas favorecem trocas producentes por via do Orçamento Participativo (OP), nas generosas geografias em que aquele celebra uma cidadania em movimento permanente.
O OP reatualiza a “vontade geral”, o pilar da soberania popular teorizada por Rousseau. “O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado”, frisa o filósofo. A erosão da sociabilidade citadina é causada pelas desigualdades sociais e a propriedade privada. (Lembremos que a indústria farmacêutica rejeitou a quebra de patente das vacinas de proteção ao Covid-19, em plena pandemia, sob alegação de possuir a private propriety dos imunizantes). Não à toa, os jacobinos consideram o autor de O contrato social e de Os devaneios do caminhante solitário, o Primeiro Revolucionário.
A palavra “assemblagem”, com origem nas artes plásticas, indica uma técnica para montar objetos naturais e manufaturados – embalagens, papéis, tecidos, madeiras – com a colagem tridimensional. Os materiais recolhidos do lixo questionam o consumo e o desperdício que afeta o meio ambiente. Artistas e recicladores sinalizam a mesma racionalidade. Urbanistas utilizam o termo ao classificar as conexões entre o sentido comunitário, os agentes das mudanças e as modalidades de governança.
A democratização das deliberações não teme a incerteza, o impensado por técnicos administrativos. Vale a indeterminação, o vir a ser do fenômeno moldado com a peculiar estética periférica. O que assusta é a apatia estimulada pela mídia corporativa e a alienação política do cidadão-consumidor. Praças e armazéns vagos exemplificam assemblagens de atividades fixas ou temporárias, planejadas ou espontâneas na dialética do real e do possível protagonizada no “imaginário de cosmopolitismo”.
Projetar a desordem é um passo para fazer a economia girar em direção aos Direitos Humanos, um conceito mais amplo do que o de Produto Interno Bruto (PIB). Participar é preciso enquanto rufam os tambores na transição da necropolítica aos ideais de valorização dos indivíduos (ontogenia), da espécie (filogenia) e do cuidado com nossas ações sobre a dinâmica da natureza (antropoceno).
Para o Emicida, agraciado com o título de Doctor Honoris Causa na UFRGS, conforme se ouve no single Passarinho: “Cidades são aldeias mortas, desafios nonsenses / Competição em vão, que ninguém vence / Pense num formigueiro, vai mal / Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus”. No AmarElo, o rapper arremata: “É um mundo cão para nós, perder não é opção, certo?”
* Docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul
Este é um artigo autoral. A opinião contida no texto é de seu autor e não representa necessariamente o posicionamento da Fundação Perseu Abramo.