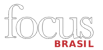Big Techs e a soberania nacional
1968 condensa lutas de emancipação. Na icônica data, Henri Lefebvre publica A vida cotidiana no mundo moderno, rumo à revolução cultural permanente que embora não separável das mudanças sociopolíticas e econômicas distingue-se por estar alicerçada no feminismo, na liberdade sexual, na reapropriação da felicidade e no espírito festivo como estilos de vida; era uma crise disruptiva. A cultura caracterizava-se pelo moralismo, esteticismo e tecnicismo prenhes de alienação e pretensão.
No mesmo ano é lançado 2001: Uma odisseia no espaço, dirigido por Stanley Kubrick. O filme enfatiza o excepcional avanço da criatura (a técnica) que parece dominar o criador (a humanidade). À época, a França mantém um Estado de bem-estar com pleno emprego. Intérpretes do movimento atribuem a convulsão sessentista a uma overdose de imaginação dos jovens pelo temor de perder os postos de trabalho para a robótica, que reduzia as vagas nas fábricas e a perspectiva de um futuro.
Receava-se que a realidade social constituísse uma entidade acima dos indivíduos e dos grupos, pondo em risco a mobilidade social. Sociólogos recriminam a “sociedade pós-industrial”. Mas então circulam outras caracterizações. “Sociedade de consumo” para designar as personalidades que se medem pela posse de objetos supérfluos. “Sociedade de abundância” para enaltecer a variedade de produtos à venda nas prateleiras das lojas; cartão-postal clássico de um capitalismo bon-vivant.
Profetas da paz e amor responsabilizam o “sistema” ao condenar a invasão estadunidense do Vietnã. Meio século depois, o termo vira um sinônimo do Estado de direito democrático para quem apregoa como alternativa um oxímoro – a democracia iliberal. O cotidiano perde o caráter utópico aberto à experimentação. A carranca fundamentalista da moral e dos costumes volta à carga e a “sociedade da produtividade” execra o ócio de quem se atreve reivindicar o tempo livre não-produzido para si.
Aparências ocultam
“O regime de informação é a forma de dominação na qual as informações e seu processamento por algoritmos e inteligência artificial (IA) determinam os processos sociais, econômicos e políticos, de posse das informações e dados”, diz Byung-Chul Han, em Infocracia. A “sociedade da disciplina” dos corpos e energias ficou no passado. Entre nós, há 480 milhões de dispositivos digitais ativos, o equivalente a 2,2 aparelhos por habitante. Do total, 258 milhões são smartphones, média de 1,2 por pessoa, segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas (27/06/2024). É a cibernetização. A ciência da computação perscruta a sociabilidade e a governabilidade com a lanterna de Diógenes.
Na “sociedade informacional”, o controle acontece no momento em que a liberdade e a vigilância entram em conexão. Os monopólios tecnológicos celebram a passividade com que os internautas transferem seus hábitos de vestir, comer, dirigir, sonhar. As celas agora dispensam grades e castigos; baseiam-se em recompensas. A visibilidade nas redes resulta na servidão à publicidade comercial.
Os influencers cumprem o papel de cruzados pós-modernos em busca do amém (likes) e de novos compartilhamentos tribais, induzindo o consumismo para obter a graça divina, os bens materiais. Os consumidores nutrem uma distopia. Os cliques no teclado performam as personas antissistêmicas com uma aceitação bovina do estabelecido. As aparências escondem o melancólico conformismo.
A televisão como instrumento principal da midiocracia funciona como palco do teatro. “Vale tudo”, no implacável embate de narrativas. Daí o pesado investimento nas legiões de robôs (bots) para construir opiniões e emoções da multidão. Exércitos de provocadores (trolls) agem com mentiras e conspirações. Sem conteúdo nem substancialidade, a democracia cai no abismo dos discursos ocos.
Um desafio premente
A revolução cultural do famoso Maio reabilitou o valor de uso e o ser humano, com a denúncia da ideologia produtivista e do racionalismo econômico. Já as inovações comunicacionais monetizam, hoje, os guerreiros da informação (infowarriors) que dinamitam a credibilidade das instituições com a propagação viral de infodemias. Importa-lhes o valor de troca. A desumanização é útil ao negócio.
A digitalização enfraquece a consciência factual, a consciência da realidade. A desfactualização constrói os muros da “sociedade da desconfiança”. Quanto maior o volume de informes díspares confrontados, mais forte o questionamento sobre o que é verdadeiro. A faticidade é só uma opção dentre outras. Está em desuso o axioma bíblico – “sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14:6).
Sem um estofo comum de consenso, a própria sociedade é um absurdo. Nessa absurdidade em ação cabem Donald Trump (Estados Unidos), Recep Tayyip Erdogan (Turquia), Viktor Orbán (Hungria), Vladimir Putin (Rússia), Benjamin Netanyahu (Israel), Javier Milei (Argentina) e um tal inelegível. Donde se conclui que sem a coragem da verdade (parrhesia) é inviável a política de comunidade.
Esforços transnacionais pretendem derrubar a insana desregulamentação na webesfera e tributar a acumulação das megaempresas de tecnologia. A participação digitalizada tem de respeitar vetores da cidadania, em escala global. Esse é o desafio premente das forças democráticas em meio à crise social, geopolítica e climática no século XXI. Condição fundamental para desconectar a reificação e promover a liberdade com responsabilidade para que a esperança se torne uma realidade efetiva.
Derrotar as Big Techs
No Brasil, cristalizou-se o apoio majoritário do Supremo Tribunal Federal (STF) para regulamentar as redes sociais. O artigo 19 do Marco Legal da Internet foi reatualizado. Trata-se de derrotar as Big Techs. A democracia deve exprimir o processo cumulativo de valores civilizatórios, e não tolerar que a plutocracia instalada nas nuvens tenha ganhos financeiros com fake news contra a veracidade.
Leonel Brizola assistia à TV Globo para tomar posição na contramão da emissora. Usava a natural inteligência (inter-legere, escolher entre) para decidir sobre o certo e o errado. A gangue da opinião funciona ao reverso do farol; em vez de orientar a navegação atrai para as pedras. Que os projetos de regulamentação dos monopólios tecnológicos afirmem alto e bom som nossa soberania nacional.
* Docente de Ciência Política na UFRGS; ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul
Este é um artigo autoral. A opinião contida no texto é de seu autor e não representa necessariamente o posicionamento da Fundação Perseu Abramo.