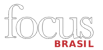O espírito da esperança
Roland Barthes na aula inaugural do Collège de France em tom anarcossurrealista provoca: “A Língua é fascista”. A imagem acusa o limite da liberdade de expressão e as formas de pensar e agir, à medida que a estrutura e as regras organizativas repetem a Empresa, a Igreja e o Estado. A língua não é só o meio de comunicação, mas um sistema de representação social para perpetuar as relações de domínio. O semiólogo rebelde denuncia o arcabouço endógeno do sistema integral e vinculante.
Há o modo sistêmico de falar (dos carecimentos ou contentamentos) e um modo antissistêmico de protestar (com brutalidade ou palavrões). A linguagem anticerimonial retira o ar distinto do poder. “O xingamento serve às ocasiões em que responder delicadamente é compactuar com o intolerável”, ensina Olavo de Carvalho. Ao contrário do argumento que disfarça, a emoção é só o que aparenta.
O influencer digital debochado nas últimas eleições à Prefeitura de São Paulo e a mise-en-scène dos ultradireitistas, ao interromper uma apresentação do ministro da Fazenda para uma maior equidade tributária, copia a lição olaviana. Abjurar autoridades e virar-lhes as costas apaga seus conteúdos, burla a discussão pública, manipula o mal-estar com a democracia, move o moinho do neofascismo.
Já o pulha mentor do golpe malogrado graceja sobre o ministro da Suprema Corte ao convidá-lo para vice na inelegível chapa à Presidência. Faz a equivalência subliminar entre o juiz da Lava Jato, de ambições na grande política, e o juiz do Estado de direito democrático que apura a verdade sobre os golpistas. A performance não é sinal de covardia, senão de malandragem para melar a reputação do julgamento. A blague lança uma suspeita sutil sobre a ética funcional da magistratura, in totum.
A flecha do progresso
A língua não é uma ferramenta neutra de interlocução; inscreve-se numa dialética da dominação. A hegemonia capitalista ampara a conotação positiva dos conceitos de rendimento, desempenho e rentabilidade aplicados à vida particular. Lembremos Karl Marx e Friedrich Engels, em A ideologia alemã: “As ideias da classe dominante, em cada época, são as ideias dominantes na sociedade, isto é, a classe que é a força material dominante é, ao mesmo tempo, a força espiritual dominante”.
No neoliberalismo a reivindicação de direitos cede à busca pelo “empreendedorismo de si mesmo”, onde o “eu” vira caçador de um reconhecimento em contextos hiperindividualistas. O assédio das mercadorias torna tudo monetizável, o consumidor e o objeto de consumo. No vistoso espetáculo das vitrines, o produto mimetiza os títulos nobiliárquicos de priscas eras, ora simbolizados no carro veloz, no tênis de marca e no restaurante gourmet para celebrar as estratificações e as exclusões.
Hoje cabe à computação, à robótica e à inteligência artificial desenrolar uma terminologia especial com o ethos do consumismo e do conformismo, que se assenhora da classe média. O desemprego é oculto na seção abstrata das startups na época da reprodutibilidade técnica. A flecha do progresso torna uma peça do memorial o vocábulo “cibernética” (kybernétes, piloto), outrora invocado para “assegurar aos cidadãos a chance de fruir plenamente dos benefícios deste mundo”. O vento levou.
O vocabulário da democracia começa com os termos universalizados pela Revolução Francesa, citoyen e droit. As noções de “cidadão” e “direito” abrem o dicionário da liberdade. A interpelação policial deveria acabar em uma exclamação: “É o meu direito!” Uma linha epistêmica e política para resguardar prerrogativas invioláveis aos iguais perante as leis; evidentemente não vale para o Bope. Nas periferias urbanas, o léxico sempre desborda em uma negativa sobre os direitos civis.
O casulo e a borboleta
No Brasil, a resiliência ao corcoveio da conjuntura política e econômica surge sob uma ditadura militar. A consciência ecológica brota do asfalto com o assassinato de Chico Mendes, na floresta amazônica. A empatia com o sofrimento dos trabalhadores ergue-se das ruínas das “reformas de base”, de João Goulart no país que recusa a nação. A teoria da dependência sinaliza a radicalidade na origem e esmorece, com os fundadores. “Esqueçam tudo o que escrevi”, apregoa a vaidade ao galgar a rampa do Palácio da Alvorada. O transformismo desde então surfa a conciliação de classes.
O subdesenvolvimento do Sul e o desenvolvimento do Norte forma o par assimétrico e duradouro em prol da política de resultados. Culmina no pateta nacionalista que bate continência à bandeira estadunidense, com a mão no coração. O tropicalismo macunaímico segue sem caráter, errando a data dos desfiles momescos e as referências cívicas da pátria cujas joias são furtadas por atavismo.
A essência nativa obedece aos cânones da produção para exportação. As commodities substituem o processo de industrialização. As ratazanas da ordem (bala, bola, bíblia) dão sustentação às emendas impositivas no Congresso, roendo um parlamentarismo-gângster. O problema não é a urna; é a falta do voto em lista que suscita os acidentes na esquina da tática com a estratégia de longa duração.
Milton Santos, na entrevista à Fundação Perseu Abramo publicada em Território e sociedade, frisa a importância da intelligentsia para narrar os sonhos coletivos e metamorfosear o casulo que libera o voo da borboleta. O real que é moldado na narrativa é reconstruído pela narrativa, o que dá uma proeminência ao intelectual embora não superior à da militância. Os partidos transformadores ainda forjam o horizonte, “porque não basta a ideia”. Superar as desigualdades é vencer a necropolítica que aproxima o abismo, e nos afasta dos ideais do socialismo democrático. Se o discurso move o mundo; “nosso trabalho é oferecer o contradiscurso”. A práxis política sintetiza a teoria e a prática.
A luz brilha na estrela
O desejo embutido na esperança não possui o poder de transcender as relações sociais. Mas carrega as baterias para o enfrentamento do autoritarismo e do conservadorismo na política, na economia, na moral e nos costumes. Exige fibra para o combate à minoridade que impede os atores sociais de decidir sobre seu destino, como sujeitos da história. O entusiasmo leva a virtú ao fronte de batalhas com o auxílio da dimensão afetiva para a imprescindível luta ideológica. Esse é o passaporte para a vita activa individual e as ações revolucionárias coletivas que descortinam os novos horizontes.
Como a confiança, a esperança pressupõe um futuro em aberto. Difere do contrato, que se fecha às alternativas. Dispensa a violência legal ou ilegal, pois conta apenas com a boa vontade de cada um. O salto para a nova vida deve-se à poíesis (a criação em ato), no linguajar encriptado das utopias. Se para alguns têm uma índole metafísica, quase cósmica, como se fosse parte imanente da realidade em direção a um incansável aperfeiçoamento – para a militância a esperança é uma aposta política.
A opção, aqui, é pelo efeito na subjetividade dos que, quando já não esperam que algo possa existir, experimentam a epifania de um pertencimento que emerge da escuridão. Nos perversos campos de extermínio nazistas, relata Primo Levi, a esperança compunha um mecanismo de sobrevivência em condições desumanas. Na Faixa de Gaza, escapar ao metódico bombardeio sionista faz os palestinos amargarem o abandono pelo Homo sapiens que assiste, no sofá, à escalada do genocídio na região.
“A esperança como estado de ânimo é pré-linguística, pré-verbal; determina e afina a linguagem”, escreve Byung-Chul Han. A espera predispõe o povo para o nascimento do novo sendo, a esperança, o fio que une os indivíduos ao “ser genérico” (à espécie humana) para a reconversão do niilismo em uma vontade de lutar. A meta é o futuro prestes a nascer; acontecimento que requer a reconstrução permanente de um partido de esquerda. Enquanto houver luz na estrela – caminante hay camino!
* Docente de Ciência Política na UFRGS; ex-Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Este é um artigo autoral. A opinião contida no texto é de seu autor e não representa necessariamente o posicionamento da Fundação Perseu Abramo.