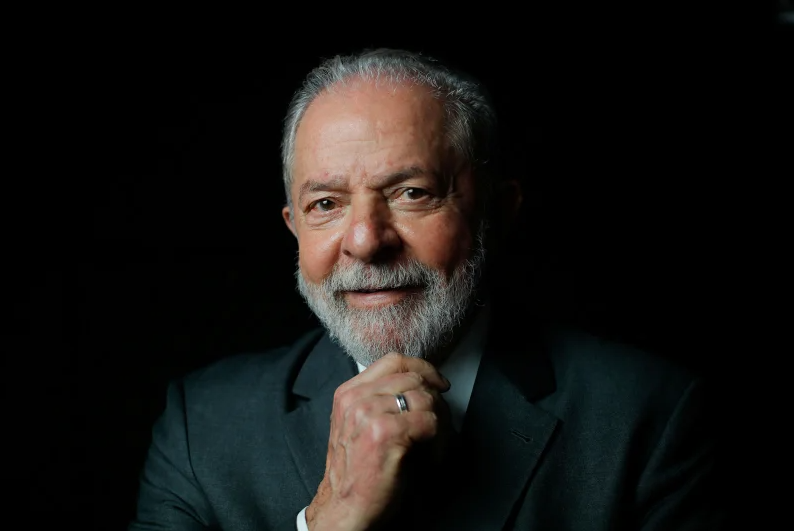A ascensão e queda do neoliberalismo
O livre mercado costumava ser apontado como a cura para todos os nossos problemas; agora é tido como a principal causa deles. É o que aponta o livro de Naomi Oreskes e Erik M. Conway

Louis Menand | The New Yorker
O “neoliberalismo” tem sido chamado de palavrão político, e é culpado por praticamente todos os males socioeconômicos que temos, desde falências bancárias e desigualdade de renda até a economia gigantesca e populismo demagógico. No entanto, por quarenta anos, o neoliberalismo foi a principal doutrina econômica do governo americano. Foi isso que nos colocou na bagunça em que estamos?
O que é “neo” sobre o neoliberalismo é realmente o que é retrô sobre isso. É confuso, porque nos anos 30 o termo “liberal” foi apropriado por políticos como Franklin D. Roosevelt e veio para defender pacotes de políticas como o New Deal e, mais tarde, a Great Society. Os liberais eram pessoas que acreditavam no uso do governo para regular negócios e fornecer bens públicos — educação, moradia, barragens e rodovias, pensões de aposentadoria, assistência médica, bem-estar e assim por diante. E eles pensaram que a negociação coletiva garantiria que os trabalhadores pudessem pagar os bens que a economia estava produzindo.
Esses liberais de meados do século não se opunham ao capitalismo e à empresa privada. Pelo contrário, eles achavam que os programas do governo e os sindicatos fortes tornavam as economias capitalistas mais produtivas e mais equitativas. Eles queriam salvar o capitalismo de seus próprios fracassos e excessos. Hoje, chamamos essas pessoas de progressistas. (Aqueles à direita os chamam de comunistas.)
O neoliberalismo, no contexto americano, pode ser entendido como uma reação contra o liberalismo de meados do século. Os neoliberais acham que o Estado deve desempenhar um papel menor na gestão da economia e no atendimento às necessidades públicas, e se opõem aos obstáculos à livre troca de bens e mão-de-obra. Seu liberalismo é, às vezes autoconscientemente, um retrocesso ao “liberalismo clássico” que eles associam a Adam Smith e John Stuart Mill: capitalismo laissez-faire e liberdades individuais. Portanto, o retroliberalismo.
O rótulo “neoliberal” tem sido anexado a uma variedade de espécies políticas, desde libertários, que tendem a ser programaticamente anti-governo, até novos democratas como Bill Clinton, que abraçam os objetivos políticos do New Deal e da Great Society, mas acham que existem melhores meios para alcançá-los. Mas a maioria dos tipos de neoliberalismo se reduz ao termo “mercados”. Tire os planejadores e os formuladores de políticas do caminho e deixe os mercados encontrarem soluções.
A literatura acadêmica sobre neoliberalismo tende a se concentrar na genealogia intelectual do pensamento neoliberal (que começa, mais ou menos, na Europa nos anos 30) ou na história política das políticas neoliberais (que começam nos anos 70). Naomi Oreskes e Erik M. Conway escreveram agora “The Big Myth: How American Business Taught Us to Loathe Government and Love the Free Market” (Bloomsbury) — [Em tradução livre “O grande mito: Como os negócios americanos nos ensinaram a detestar o governo e amar o livre mercado”, ainda sem edição no Brasil], que adiciona uma terceira dimensão à história.
No relato deles, o neoliberalismo — eles preferem o termo “fundamentalismo de mercado”, que creditam a George Soros — representa o triunfo de décadas de lobby pró-negócios. Eles também contam a história intelectual e a história política do neoliberalismo. Então, este livro é, de fato, três histórias empilhadas uma em cima da outra. Isso cria um volume muito espesso.
A história do lobby é boa de se saber. A maioria dos eleitores é altamente sensível à sugestão de que alguém pode tirar sua liberdade pessoal, e é sobre isso que a propaganda pró-negócios os tem alertado nos últimos cem anos. A propaganda assumiu muitas formas, desde livros didáticos universitários financiados por grupos empresariais até entretenimentos populares como os livros “Little House on the Prairie”, de Laura Ingalls Wilder, que pregam a lição da autossuficiência. (Os livros foram promovidos como autobiográficos, mas Oreskes e Conway dizem que Wilder, com a ajuda de sua filha, deturpou completamente os fatos da história de sua família).
A mensagem infinitamente reiterada desse lobby, dizem Oreskes e Conway, é que as liberdades econômicas e políticas são indivisíveis. Qualquer restrição ao primeiro é uma ameaça ao segundo. Este é o “grande mito” de seu título, e eles nos mostram, com um pouco de detalhe de mangueira de fogo, como muitas pessoas gastaram muito tempo e dinheiro colocando essa ideia na mente do público americano. O livro é um imenso feito acadêmico, mas os autores insistem que não é apenas uma “intervenção acadêmica”. Eles têm um propósito político. Eles acham que um papel do governo tem sido corrigir falhas de mercado e, se o governo for desacreditado, como ele vai corrigir o que pode ser a maior falha de mercado de todas, a mudança climática?
Oreskes e Conway sugerem que podemos ter uma ideia do que estamos enfrentando com a pandemia. Milhões de americanos pareciam desacreditar no que as autoridades do governo estavam dizendo a eles sobre a covid ou considerar medidas de saúde pública como vacinas e mandatos de máscara como invasões em sua liberdade (Também houve alguma histeria anti-vacina). Atletas profissionais fantasticamente bem compensados, cujas liberdades muito pouco invadem, estavam entre os piores modelos.
Comparando a resposta americana com a de outros países, Oreskes e Conway sugerem que 40% das mortes por covid deste país poderiam ter sido evitadas se os americanos confiassem na ciência, no governo e uns nos outros. Eles acham que anos de ataques científicos (o assunto de seu livro anterior, “Merchants of Doubt”) e mensagens antigovernamentais ensinaram os americanos a não fazê-lo. Agora, quando os funcionários públicos propõem políticas para lidar com as mudanças climáticas, as pessoas serão informadas: “Eles querem tirar suas televisões”, e muitos acreditarão.
A noção de amarrar a liberdade econômica à liberdade política, ou a liberdade corporativa à liberdade pessoal, não foi inventada pelos lobistas. É o princípio central dos textos bíblicos do fundamentalismo de mercado de Friedrich A. Hayek, “The Road to Serfdom” [“O Caminho da Servidão”, em edição da LVM Editora, de 2022] e “Capitalismo e Liberdade”, de Milton Friedman. Hayek e Friedman eram economistas acadêmicos; ambos receberam o Prêmio Nobel, em 1974 e 1976, respectivamente. Mas seus livros famosos não são acadêmicos. Eles são polêmicos, com alta afirmação e pouca evidência. Ainda assim, os dois livros permaneceram impressonantes. Eles apertaram alguns botões.
Hayek escreveu “O Caminho da Servidão” durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estava morando na Inglaterra, depois de emigrar da Áustria para assumir uma posição na London School of Economics, e seu livro saiu em 1944. Se você estivesse olhando para a história mundial recente em 1944, o que você veria? Uma queda no mercado de ações, uma depressão mundial e a ascensão de dois poderosos estados totalitários que, se Hitler não tivesse cometido o erro de invadir a União Soviética, poderiam ter dividido a Europa entre eles por gerações. Você poderia razoavelmente ter concluído que, mesmo que a Alemanha fosse finalmente derrotada e a União Soviética fosse colocada de volta em sua caixa, o capitalismo de livre mercado e a democracia liberal tiveram seu dia.
Hayek sentiu que era isso que as pessoas na Inglaterra estavam concluindo — que uma economia gerenciada pelo Estado, de algum tipo, era necessária para evitar outro colapso. Eles podem não pensar que isso significaria desistir de sua liberdade, mas Hayek os avisou que isso foi um erro fatal. Ele dedicou o livro “aos socialistas de todos os partidos”. Ele acreditava que o planejamento central, mesmo quando realizado por um governo eleito, era uma espécie de ditadura. As pessoas não devem ser informadas sobre o que fazer com sua propriedade, disse ele, e “o que nossa geração esqueceu é que o sistema de propriedade privada é a garantia mais importante de liberdade, não apenas para aqueles que possuem propriedade, mas pouco menos para aqueles que não possuem”.
Hayek reconheceu que há coisas que os governos podem fazer que os atores privados não podem. Presumivelmente, você precisa de leis e tribunais para proteger os direitos de propriedade e fazer cumprir contratos; você precisa de um exército e alguma forma de dinheiro. Há também necessidades públicas que a empresa privada não pode atender de forma lucrativa ou eficiente. Oreskes e Conway nos dizem que Hayek “não era tão hostil aos programas de assistência social quanto muitas vezes é acusado de ser”.
Mas Hayek estava fazendo um argumento clássico de inclinação escorregadia. O planejamento é de cima para baixo e requer autoridade centralizada e, quaisquer que sejam os motivos dessa autoridade, isso inevitavelmente se transforma em totalitarismo. “Do idealista santo e obstinado ao fanático, muitas vezes é apenas um passo”, como ele disse. Ele acreditava que o socialismo destrói o que ele via como um princípio básico da civilização ocidental: o individualismo. O estado de bem-estar pode manter as pessoas abrigadas e alimentadas, mas o custo é existencial. Não é apenas que as pessoas perderão sua liberdade—é que elas nem se importarão.
“O caminho da servidão” foi escrito em uma época de incerteza geopolítica. A possibilidade de um futuro totalitário, o “Poderia acontecer aqui?” pergunta, obcecado por muitos intelectuais—incluindo Karl Popper, Hannah Arendt, Isaiah Berlin e George Orwell, que revisou o livro de Hayek. Hayek está “provavelmente certo em dizer que neste país os intelectuais são mais totalitários do que as pessoas comuns”, escreveu Orwell. “Mas ele não vê, ou não admitirá, que um retorno à competição ‘livre’ significa para a grande massa de pessoas uma tirania provavelmente pior, porque mais irresponsável, do que o Estado.” O New York Times chamou “O caminho da servidão” de “um dos livros mais importantes da nossa geração”. Ele falou ao seu momento.
O livro de Friedman, por outro lado, parece ter sido quase comicamente errado. Ele o publicou em 1962, no meio do que o economista Robert Lekachman, em um livro amplamente lido publicado em 1966, chamou de “A Era de Keynes”. Os programas governamentais foram entendidos como essenciais para estimular o crescimento e manter a “demanda agregada”. Se as pessoas pararem de consumir, as empresas param de produzir, os trabalhadores são demitidos e assim por diante. Essa foi tomada como a lição da Grande Depressão e do New Deal: mais intervenção do governo, não menos.
No Reino Unido, o governo trabalhista do pós-guerra, como Hayek temia, nacionalizou as principais indústrias e criou o Serviço Nacional de Saúde – “medicina socializada”, como os oponentes o chamavam. Nos Estados Unidos, programas governamentais como a Previdência Social e o G.I. Bill eram extremamente populares, e enormes atos de gastos foram aprovados. A Lei de Rodovias de Defesa Nacional e Interestadual de 1956 autorizou a construção do sistema de rodovias interestaduais, facilitando o comércio interestadual e reduzindo os custos de transporte. A Lei de Educação de Defesa Nacional de 1958 injetou dinheiro federal na educação. Em 1964, o Congresso proibiria a discriminação racial e de gênero no emprego. Um ano depois, criaria o Medicare e o Medicaid. Os gastos do governo mais do que dobraram entre 1950 e 1962. Enquanto isso, a principal taxa de imposto marginal nos Estados Unidos e no Reino Unido estava próxima de 90%.
Foi um pesadelo neoliberal—e, no entanto, entre 1950 e 1973, o PIB mundial cresceu no ritmo mais rápido da história. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental experimentaram taxas notavelmente altas de crescimento e baixos níveis de desigualdade de riqueza — na verdade, as mais baixas em qualquer lugar a qualquer momento. Em 1959, a taxa de pobreza nos Estados Unidos era de 22%; em 1973, era de 11%. Também foi um período de “libertação”. As pessoas se sentiam livres, encenavam sua liberdade e queriam mais dela. Eles não deveriam se sentir assim. Eles deveriam ser passivos e dependentes. Não teria parecido um momento propício para escrever um ataque completo ao governo.
E ainda assim Friedman escreveu um, e ele não deu socos. “Capitalismo e Liberdade” começa com uma resposta desdenhosa ao Discurso Inaugural de John F. Kennedy. “O paternalista ‘o que seu país pode fazer por você’”, escreveu Friedman, “implica que o governo é o patrono, o cidadão a ala, uma visão que está em desacordo com a crença do homem livre em sua própria responsabilidade por seu próprio destino”. (Claro, Kennedy disse que os americanos não deveriam perguntar o que seu país poderia fazer por eles. Mas não importa. É esse tipo de livro).
Friedman forneceu uma lista de coisas às quais se opunha: controle de aluguel, leis de salário mínimo, regulamentação bancária, Comissão Federal de Comunicações, o programa de Previdência Social, requisitos de licenciamento ocupacional, “chamados” de habitação pública, o recrutamento militar, estradas com pedágio operadas publicamente e parques nacionais.
Mais tarde no livro, ele se manifestou contra as leis antidiscriminação (que ele comparou às leis nazistas de Nuremberg: se o governo pode dizer quem você não deve discriminar, ele pode dizer quem você deve discriminar), sindicatos (monopólios anticompetitivos), escolas públicas (onde os contribuintes são obrigados a financiar cursos sobre “tecelagem de cestas”) e o imposto. Ele argumentou que um imposto sobre herança não é mais justo do que um imposto sobre talentos seria. Herança e talento são acidentes de nascimento. Por que é justo tributar o primeiro e não o segundo?
Muito no livro de Friedman ecoa Hayek. (De 1950 a 1972, ambos ensinaram na Universidade de Chicago, Friedman no Departamento de Economia e Hayek no Comitê de Pensamento Social). “Uma sociedade que é socialista não pode ser democrática, no sentido de garantir a liberdade individual”, diz Friedman. E: “A liberdade econômica é… um meio indispensável para a conquista da liberdade política”.
Como Hayek, Friedman conjurou a perda do individualismo. Sim, ele admitiu, os programas e regulamentos do governo podem melhorar a qualidade de vida e aumentar o nível de desempenho dos serviços sociais localmente, mas, no processo, eles “substituiriam o progresso pela estagnação” e “substituiriam a mediocridade uniforme pela variedade essencial para essa experimentação que pode trazer os adiados de amanhã acima da média de hoje”.
Essencialmente, “Capitalismo e Liberdade” é um argumento para a privatização. O livre mercado é um sistema de preços: alinha a oferta e a demanda e atribui aos bens e serviços seu preço apropriado. Se o Estado quiser entrar no negócio de, digamos, benefícios de aposentadoria, deve ter que competir em igualdade de condições com os provedores rivais. Deve haver um mercado em planos de aposentadoria. As pessoas devem ser livres para escolher um, e igualmente livres para escolher nenhum.
Friedman teve algumas ideias engenhosas sobre maneiras de usar a abordagem de mercado — por exemplo, permitindo que os investidores paguem mensalidades universitárias em troca de uma porcentagem dos ganhos futuros de um aluno. Ele pensou que a segregação escolar poderia ser corrigida por um sistema de vouchers que permitisse aos pais escolher para qual escola enviar seus filhos.
“Como esse livro radical e incrível—que quer dizer não credível—vende tão bem?” perguntam Oreskes e Conway. E fez meio milhão de cópias, com traduções para dezoito idiomas. Uma razão foi a energia promocional de Friedman. Ele se tornou um dos intelectuais públicos mais proeminentes da época. Ele escreveu uma coluna para a Newsweek e, entre 1966 e 1984, publicou mais de 400 artigos de opinião. Em 1980, com sua esposa, Rose, ele produziu um programa de televisão de dez partes chamado “Free to Choose”, transmitido pela PBS.
Um episódio faz com que ele explique como um lápis surge. Os materiais — madeira, grafite, borracha, metal — são produzidos de forma independente em países de todo o mundo. Como eles se reúnem para fazer um lápis? “Não havia comissário enviando ordens de algum escritório central”, diz Friedman, acenando com um lápis. “Foi a magia do sistema de preços”. Seus espectadores podem não ter certeza exatamente do que era “o sistema de preços”, mas foi um show-and-tell legal. E eles sabiam o que era um comissário. Ninguém gosta de comissário.
Outra razão pela qual o livro de Friedman sobreviveu à era de Keynes é que o Departamento de Economia de Chicago se estabeleceu bem no mundo acadêmico. Vários de seus professores durante o tempo de Friedman também ganhariam Prêmios Nobel, incluindo George Stigler e Gary Becker, cujas opiniões estavam intimamente aliadas às de Friedman.
Surgiu algo chamado Escola de Chicago, identificada como a força intelectual por trás de uma abordagem microeconômica às ciências sociais, que explica muito comportamento em termos de “preço” (um dos livros de Becker é chamado de “A Abordagem Econômica ao Comportamento Humano”) e o movimento de direito e economia na jurisprudência. Este trabalho não foi propaganda, mas, como Oreskes e Conway dizem, deu credibilidade intelectual à propaganda pró-negócios.
A Escola de Chicago teve seu pai fundador: Adam Smith. Friedman tinha uma gravata Adam Smith; Stigler usava uma camiseta Adam Smith. Como Glória M. Liu explica em sua história da recepção de Smith nos Estados Unidos, “Adam Smith’s America” (Princeton), os habitantes de Chicago “reimaginaram Smith como o autor original do mecanismo de preços”. Isso envolveu esculpir as partes do pensamento de Smith que não se encaixam na tese. “‘Interresse próprio’ e a ‘mão invisível’”, diz Liu, passaram a significar “uma maneira completa de pensar sobre a sociedade como sendo organizada através das ações naturais, automáticas e autogeradas de atores econômicos individuais”.
Oreskes e Conway concordam. Eles apontam que quando Stigler produziu uma “Riqueza das Nações” resumida, nos anos 50, ele omitiu a maioria das passagens em que Smith defende a regulamentação de indústrias onde a busca descontrolada de interesse próprio pode causar danos sociais. O setor bancário foi um deles. O que Oreskes e Conway chamam de “americanização” de Adam Smith o reduziu ao tropo da mão invisível.
Na verdade, a frase “mão invisível” aparece apenas uma vez nas mil páginas de “A Riqueza das Nações”. Smith usa a metáfora para caracterizar os meios pelos quais um ato de busca de lucro egoísta pode servir a um bem social. (Essa ideia já havia sido apresentada em “A Fábula das Abelhas”, de Bernard Mandeville, publicado em 1714.) O livro de Smith, publicado em 1776, pretendia se opor a uma estratégia econômica predominante na Grã-Bretanha do século 18 — o sistema nacionalista e protecionista do mercantilismo — explicando como o livre comércio e a divisão do trabalho criam mais riqueza nacional. Ele estava escrevendo antes que a Revolução Industrial realmente começasse ou que o conceito moderno de capitalismo se tornasse. É um anacronismo lê-lo como se ele estivesse contrariando Keynes.
Stigler chamou “A Riqueza das Nações” de um “palácio estupendo erguido sobre o granito do interesse próprio”. Mas Smith não achava que os mercados são sempre autorreguladores, e ele não achava que as pessoas são sempre auto-interessadas. A primeira frase de seu outro grande trabalho, “A Teoria dos Sentimentos Morais”, diz: “Por mais egoísta que o homem possa ser suposto, há evidentemente alguns princípios em sua natureza, que o interessam na fortuna dos outros e tornam sua felicidade necessária para ele, embora ele não tire nada dela, exceto o prazer de vê-la”. (Becker poderia ter chamado isso de “preço sombra”. Há certas coisas que fazem as pessoas se sentirem melhores ou piores consigo mesmas, e esses sentimentos são fixados no preço do bem ou serviço que estão comprando. Para um economista de livre mercado, o preço está sempre certo.)
A verdadeira razão pela qual o fundamentalismo do mercado prevaleceu não foi que ele ganhou a guerra de ideias. Foi que o boom do pós-guerra chegou ao fim. A economia começou a ir para o sul no início dos anos 70, com o embargo de petróleo e a recessão de 1973-74, durante a qual o índice Dow perdeu 45% de seu valor. Tornou-se proibitivamente caro pedir dinheiro emprestado. Em 1980, a taxa principal, a taxa de juros que os bancos cobram de seus clientes mais dignos de crédito, havia ultrapassado de 20% (estava 2,25% em 1950), e a inflação era de cerca de 14%. A taxa de desemprego aumentou de 3,5% em 1969 para 10,8% em 1982. A economia americana estava presa na “estagflação”: alta inflação e baixo crescimento.
Nixon, Ford, Carter—parecia que nenhuma administração sabia como parar o sangramento. Os gastos do governo e as altas taxas marginais de impostos, que pareciam funcionar bem nos anos 60, agora pareciam impedimentos para a recuperação. A abordagem da Escola de Chicago ganhou força. Ainda assim, como o historiador Daniel T. Rodgers aponta em “Age of Fracture”, sua história intelectual do período, “o quebra-cabeça da época não é que os conceitos econômicos tenham se movido para o centro do debate social; o enigma é que uma ideia tão abstrata e idealizada de ação de mercado eficiente deveria ter surgido em meio a tanta imperfeição do mercado do mundo real”.
Ajudou que, em 1980, um verdadeiro crente fosse eleito presidente. Ronald Reagan havia sido convertido em teologia de livre mercado durante os anos que passou como porta-voz da General Electric, de 1954 a 1962, não apenas hospedando o “General Electric Theatre”, transmitido todos os domingos no horário nobre na CBS, mas pregando o evangelho da livre empresa e a magia dos mercados para os trabalhadores das fábricas da G.E. em todo o país.
“O governo não é a solução para o nosso problema”, disse ele em seu Discurso Inaugural. “O governo é o problema.” Essas foram frases que os autores de “O caminho da servidão” e “Capitalismo e Liberdade” viveram para ouvir. O Reino Unido, sob Margaret Thatcher, empreendeu uma revisão paralela da economia do estado de bem-estar — mais áspera lá, já que havia mais para Thatcher desfazer.
Uma das primeiras coisas que Reagan fez como presidente foi quebrar o sindicato dos controladores de tráfego aéreo, cujos membros, funcionários federais, haviam entrado em greve. Ele demitiu os grevistas e o sindicato foi descertificado. Ainda assim, embora o espírito pró-mercado de Reagan estivesse disposto, sua carne política era fraca. Ele passou o maior aumento de impostos em tempo de paz da história americana, não conseguiu eliminar nenhuma grande agência governamental e acrescentou quase US$ 2 trilhões à dívida nacional. Mas ele implantou na mente do eleitorado a ideia de que a liberdade empresarial é liberdade pessoal. Em 1988, ele concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade a Milton Friedman.
Como Oreskes e Conway apontam, a desregulamentação realmente começou sob Jimmy Carter, antecessor de Reagan. Carter, às vezes com o apoio do arquiliberal Edward M. Kennedy, desregulamentou a indústria aérea, ferrovias e caminhões. A desregulamentação continuou depois que Clinton foi eleito, em 1992. “A era do grande governo acabou”, ele anunciou. “A autoconfiança e o trabalho em equipe não são virtudes opostas—devemos ter as duas”. No Reino Unido, o governo de Tony Blair assumiu a mesma abordagem. Juntos, Blair e Clinton promoveram uma abordagem neoliberal ao comércio internacional, o início do que agora chamamos de globalização.
Em 1993, o Congresso ratificou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). Em 1996, aprovou a Lei de Telecomunicações, abrindo o negócio de comunicações. E em 1999 revogou parte da Lei Glass-Steagall, um estatuto da Era da Depressão que proibia os bancos comerciais de se unirem a empresas de valores mobiliários (“bancos de investimento”).
Essas políticas foram realizadas na crença de que a liberação de mercados aumenta a produtividade e a concorrência, reduzindo os preços, e que os mercados se regulam com mais eficiência do que os administradores. Mas alguns de seus efeitos não intencionais ainda podem ser sentidos hoje. O Nafta teve um impacto positivo líquido nas economias dos signatários — Canadá, México e Estados Unidos — mas também facilitou a realocação de fábricas americanas para o México, onde a mão de obra é mais barata, causando sérios danos sociais e econômicos a certas áreas dos EUA. É provável que muitos eleitores de Donald Trump fossem pessoas, ou filhos de pessoas, cujas vidas e comunidades foram interrompidas pelo nafta.
A Lei de Telecomunicações incluiu uma cláusula, Seção 230, imunizando os operadores da web da responsabilidade por conteúdo de terceiros postado em seus sites. As consequências são bem conhecidas. E o enfraquecimento de Glass-Steagall, juntamente com o relaxamento da supervisão bancária do presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, foi culpado pela crise financeira de 2008 e pela Grande Recessão que se seguiu, uma crise que Oreskes e Conway estimam que custa ao público US$ 23 trilhões de dólares.
No entanto, a era neoliberal dificilmente foi um triunfo para a abordagem de Friedman. As políticas pró-mercado eram geralmente misturadas com o financiamento estadual e a direção do governo. Clinton pode ter subscrito muitos princípios neoliberais, mas uma das primeiras iniciativas que sua administração tentou foi uma reforma do sistema de saúde, onde o governo deveria dar a cada cidadão um “cartão de segurança de saúde” — o que parece muito com a medicina socializada.
Tanto o Nafta quanto a Lei de Telecomunicações contêm muitos requisitos regulatórios. O governo está supervisionando como os negócios são feitos, não apenas se afastando. Tal como acontece com a liberdade de expressão e a liberdade de religião, é o Estado que cria o espaço social no qual a liberdade econômica pode ser exercida. Sem governo, estamos em um estado de natureza, onde a coerção, não a liberdade, é a norma.
Há um estranho ponto cego em “O Grande Mito”. Os autores são exaustivos ao desmascarar a visão fundamentalista da “magia do mercado” (embora os fundamentalismos não sejam difíceis de desmascarar, e muitas de suas críticas sejam familiares). Mas o que os exerce especialmente é a equação dos propagandistas pró-negócios feita entre mercados livres e liberdades políticas—“a afirmação de que a América foi fundada em três princípios básicos e interdependentes: democracia representativa, liberdade política e livre iniciativa”. Oreskes e Conway chamam isso de “uma reivindicação fabricada”. É?
Como eles apontam, não há menção à livre iniciativa na Constituição. Mas há menções à propriedade, e quase todos os desafios à interferência do governo na economia se deparam com o conceito de direito à propriedade. Os fundadores eram altamente sensíveis a essa questão. Eles não apenas tornaram o conceito de propriedade privada compatível com o conceito de direitos políticos; eles fizeram da própria propriedade um direito político. E vice-versa: os direitos eram propriedade pessoal. “Como se diz que um homem tem direito a sua propriedade”, escreveu James Madison, “pode-se dizer igualmente que ele tem uma propriedade em seus direitos”.
Assim, a Quinta Emenda prevê que “nenhuma pessoa deve ser… privada de vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal”. Como o resto da Declaração de Direitos, isso foi originalmente entendido como se aplica apenas ao governo federal, mas a Décima Quarta Emenda, ratificada em 1868, também a aplicou aos estados, e os tribunais invocaram a cláusula de “devido processo” dessa emenda para proteger todos os tipos de direitos fundamentais que não são especificados na Declaração de Direitos — como o direito à privacidade. Esta é a doutrina judicial conhecida como “due processe substantive”.
Os lobistas pró-negócios estavam, portanto, completamente corretos ao definir a livre iniciativa, pelo que significavam a liberdade de fazer o que gostavam com sua propriedade, como uma liberdade política. Nas primeiras décadas do século 20, a Suprema Corte usou o devido processo substantivo para derrubar atos e programas do governo que incomodaram o direito de propriedade e o que o Tribunal chamou de “liberdade de contrato”—incluindo leis de salário mínimo, regulamentos de segurança do trabalhador e vários programas do New Deal. O tratamento da propriedade privada como um direito político não foi algo sonhado por Friedrich Hayek ou pela Associação Nacional de Fabricantes. É, para o bem ou para o mal, parte do tecido da sociedade americana.
Mas essa liberdade política não é absoluta. Os Fundadores eram hábeis em equilibrar uma concessão de autoridade com uma contrabalança. Quando a Suprema Corte — sob pressão de Franklin Roosevelt, que ameaçou empacotar o tribunal — fez uma reviravolta no New Deal, em 1937, tinha outro mecanismo legal à sua disposição. O Artigo I da Constituição dá ao Congresso o poder “para regular o Comércio com Nações estrangeiras, e entre os vários Estados, e com as Tribos Indígenas”.
Esta é a “cláusula de comércio”, que, desde a época de John Marshall, tem sido amplamente interpretada para dar ao Congresso o poder de regular praticamente tudo relacionado ao comércio interestadual. Através da cláusula comercial, os tribunais começaram a dar ao Congresso novos poderes, abrindo caminho para os programas e políticas do liberalismo de meados do século. A autoridade constitucional para as disposições antidiscriminação da Lei dos Direitos Civis de 1964 é a cláusula de comércio. Você não pode contar a história da guerra dos negócios contra o governo sem levar em conta esse contexto legal. O devido processo e a cláusula comercial foram as armas com as quais os antagonistas lutaram e, como geralmente acontece, a Suprema Corte teve a última palavra.
O que o neoliberalismo fez? No lado positivo do livro-razão: em 1980, cerca de 43% do mundo vivia em extrema pobreza (pela definição do Banco Mundial), e hoje o número é de cerca de 8%. A globalização tirou 1 bilhão de humanos da pobreza em apenas 40 anos. E você possui muitos itens domésticos, como baterias e camisetas, que foram fabricados em países comunistas—China e Vietnã—e que eram muito baratos. Novas partes do mundo, notavelmente o Leste e o Sul da Ásia, agora são atores econômicos. O conhecimento tecnológico não é mais um monopólio das potências do Primeiro Mundo.
Entre os débitos: a desregulamentação, que deveria estimular a concorrência, não diminuiu a tendência ao monopólio. Apesar da Lei de Telecomunicações, apenas três empresas—Verizon, T-Mobile e AT&T—fornecem 99% de internet e telefonia. Seis empresas dominam a mídia nos Estados Unidos: Comcast, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Fox Corporation e Sony. A publicação de livros nos Estados Unidos é dominada pelos chamados Big Five: Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House e Simon & Schuster. A indústria da música é dominada por apenas três players corporativos: as divisões de música Universal, Sony e Warner.
Os peixes grandes, com suas pilhas de capital, continuam engolindo os peixinhos. Os Big Five agora seriam os Big Four se o acordo da Penguin Random House para adquirir a Simon & Schuster não tivesse sido considerado uma violação da lei antitruste no outono passado. Das 12 empresas mais valiosas do mundo, oito das quais são empresas de tecnologia, todas são monopólios ou quase monopólios.
E, como Martin Wolf enfatiza em sua crítica altamente informada e inteligente à economia global, “A Crise do Capitalismo Democrático” (Penguin Press), a desigualdade está em toda parte. No nível da empresa: em 1980, os CEOs receberam cerca de quarenta e duas vezes mais do que o funcionário médio; em 2016, receberam trezentos e quarenta e sete vezes mais. No nível de toda a sociedade: os 3 milhões de pessoas que compõem o mais rico 1% dos americanos valem coletivamente mais do que os 291 milhões que compõem os 90% inferiores.
É o aumento da desigualdade instigado pelo sistema neoliberal que representa a ameaça mais imediata para a sociedade civil. Wolf duvida se os Estados Unidos ainda serão uma democracia em funcionamento no final da década. De qualquer forma, o sol se pôs no neoliberalismo. Ambas as partes se aproximaram de algo como mercantilismo; a linguagem do mercado perdeu sua magia.
“Bidenomics” envolve imensos gastos do governo; enquanto isso, um novo quadro — protecionistas, capitalistas de compadrio, etnonacionalistas e provinciais sociais e culturais — está reescrevendo plataformas partidárias. Os republicanos criticam ansiosamente a Big Tech e se chocam com corporações “acordadas”, mais com a intenção de lutar uma guerra cultural do que de defender o comércio. As pessoas costumavam orar pelo fim do neoliberalismo. Infelizmente, é assim que parece. •