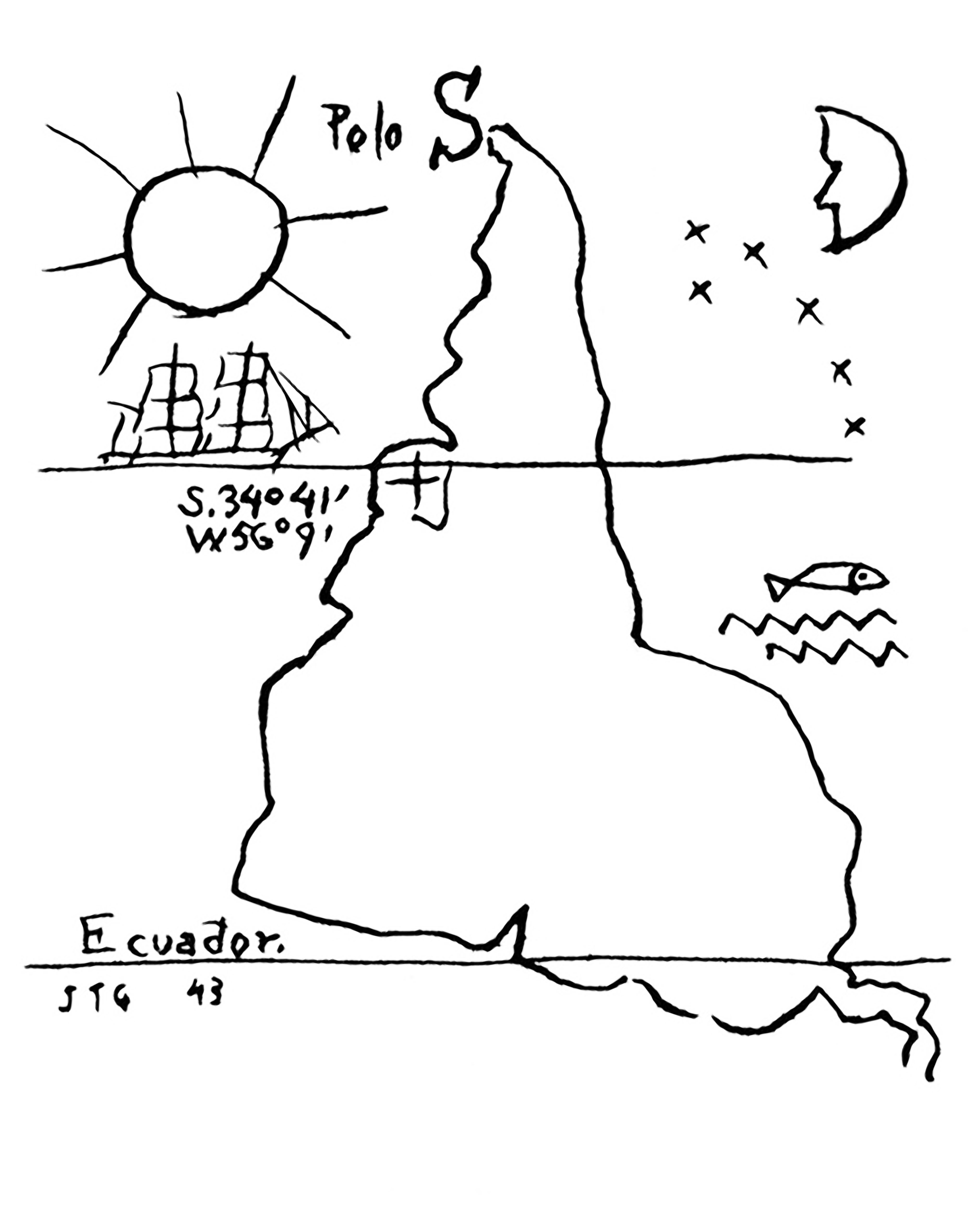Solidariedade além da cesta básica
Os números mostram, as pessoas sentem: a fome é a outra pandemia que atinge a humanidade nesta quadra histórica. No Brasil, tanto quanto a do coronavírus, a pandemia da fome tem tintas especialmente dramáticas, em função da ausência de intervenção programática do Estado. Por outro lado, reativou um movimento de solidariedade semelhante àquele que, nos anos 1980, foi iniciado pela liderança do sociólogo Herbert José de Sousa, o Betinho.
Pelas periferias do país, espraiando-se pelas regiões centrais e mobilizando igualmente quem ainda se reconhece protegido dos efeitos da falta de comida, mutirões de coleta de alimentos e doações em dinheiro procuram, desde março do ano passado, amenizar o flagelo.
Porém, mesmo na solidariedade, há diferenças. Muitos reconhecem que não bastam doações pontuais, motivadas por crises de consciência ou por razões mercadológicas. Ao contrário de setores que anunciam estas ações em comerciais de televisão, ou de ministros que defendem a destinação de sobras dos ricos para os pobres, movimentos e grupos organizados têm arrecadado e distribuído alimentos conscientes de que além do corpo, é preciso alimentar as consciências.
O MST, desde o início da pandemia, já arrecadou 5 mil toneladas de alimentos, produzidos nos acampamentos e assentamentos, e 1 milhão de marmitas, preparadas em cozinhas coletivas instaladas em periferias urbanas em todo o país. Trata-se de um trabalho que já conta muitos anos, mas aprofundado na pandemia, com o nome de Periferia Viva.
“Junto com a campanha, a gente começou a organizar uma metodologia de trabalho de base. A gente seleciona agentes populares, que são pessoas da própria periferia, que vão cuidar de determinados números de casas, de ruas, elas conhecem o território, conhecem as potencialidades, e junto com esses agentes começamos a organizar hortas urbanas, bancos populares de alimentos, ações de promoção de saúde da família, contra a violência doméstica. Solidariedade para o MST tem um significado muito amplo”, conta Kelli Mafort, da coordenação nacional do movimento.
Aliás, a pandemia, segundo Kelli, acabou por aproximar o MST das favelas urbanas como nunca antes havia acontecido. A arrecadação, distribuição e preparo de alimentos acabam por se tornar oportunidade para conversar com as comunidades sobre as razões estruturais da fome no Brasil e a necessidade de mudança do modelo, que exige maior suporte à agricultura familiar, reforma agrária e contenção do agronegócio.
Concorrem para o despertar desse debate até mesmo aspectos sensoriais e afetivos. Kelli conta que os moradores das periferias, muitos egressos do campo, maravilham-se ao rever alimentos que conheceram na infância e que nunca mais haviam encontrado nas cidades. “Até comida com sabor de comida de verdade despertam esses sentidos e evocam a importância do direito à terra”, diz.
Experiência parecida têm tido os moradores de periferias que estão recebendo alimentos produzidos pelas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo. A Cooperquivale, cooperativa que agrega 368 famílias quilombolas da região, produz 78 produtos diferentes, como inhame, cará, mandioca, banana.
“Consumidores das regiões centrais que procuram por alimentos orgânicos nem vão reconhecer esses alimentos. Mas as pessoas da periferia vão reconhecer, porque foram expropriadas do campo em algum momento. Tem pessoas das periferias que olham e dizem: nossa, eu lembro disso de quando eu era criança”, relata o antropólogo Frederico Viegas, do Instituto Socioambiental (ISA), que assessora as famílias da Cooperquivale.
O caso da Cooperquivale traz ainda os reflexos de políticas públicas outrora incentivadas para atacar as raízes estruturais da fome. Esse território quilombola certificado passou a fornecer alimentos para prefeituras do estado de São Paulo a partir da consolidação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criados nos governos do PT para garantir a compra de comida de qualidade diretamente de produtores da agricultura familiar.
Segundo Viegas, mesmo com a interrupção das compras por parte de prefeituras, causada pela pandemia, os caminhos traçados pelo PAA e pelo PNAE proporcionam a estrutura logística necessária para que os alimentos sejam atualmente doados para cinco municípios do Vale do Ribeira e também para a população da Favela São Remo, na capital.
Desde março do ano passado, são 157 toneladas de alimentos doadas. Para tornar isso possível, valeu também o fato de o ISA, aproveitando a interrupção das atividades presenciais, ter redirecionado parte da verba de projetos financiados, entre outras organizações, pela União Europeia, para irrigar o trabalho da Cooperquivale. Assim, os quilombolas continuam mantendo a renda do trabalho e pessoas em situação de fome recebem ajuda.
É dessa mistura entre solidariedade e políticas públicas que podem surgir ações transformadoras, na opinião de Tereza Campello, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma. “Vou dar um exemplo lindo: a construção de cisternas pela Articulação do Semiárido (ASA), lá nos anos 1990”, relembra. “O governo Lula se inspirou nessa experiência e construiu um programa de cisternas. Quando o Estado entra, você começa a ter escala, porque as comunidades, sozinhas, não conseguem atender toda a população”, comenta. Na opinião dela, ações como as do MST e da Cooperquivale podem ser incorporadas a futuras políticas públicas.
Como se vê, a solidariedade no combate à fome no Brasil tem se dado, principalmente, entre iguais. Mas, como destacado por Tereza Campello, sem a presença do Estado, há limites. É o caso, por exemplo, de coletivos que atuam em cinco favelas da zona sul de São Paulo.
Em 2020, conseguiram a maior parte das doações junto aos próprios moradores. “Famílias que separavam um pouco do que tinham para quem estava sem nada”, lembra Claudinho Silva, um dos coordenadores do trabalho de arrecadação. Neste ano, em função do empobrecimento crescente, as doações se aproximam do zero. Eis outro desafio: conectar quem precisa aos que podem ajudar.