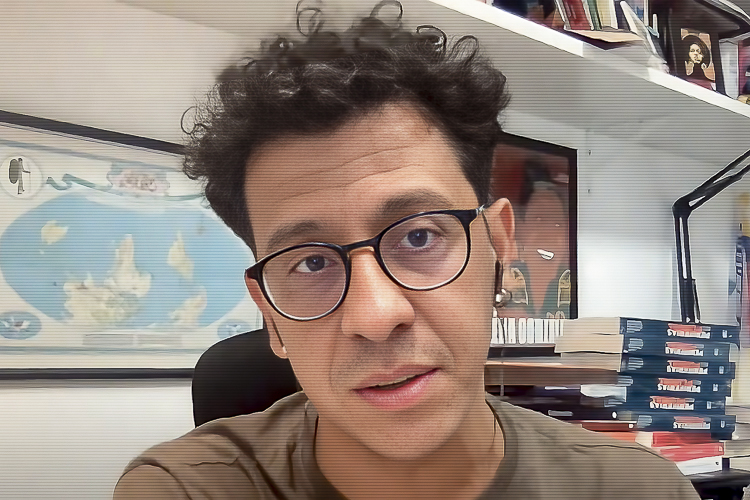Das periferias vêm sonhos de um futuro de solidariedade e arte
Violência e acentuada escassez de recursos materiais marcaram a infância e a adolescência de Elizeu Braga e Cláudio Jr. Ambos nascidos na região Norte do Brasil, onde ainda residem, têm mais coisas em comum. Hoje artistas da palavra, acreditam ter descoberto o caminho para o futuro. E lá, no futuro, não há sonhos de muita grana nem de ir morar em outros centros urbanos do país. O que acontece agora os preenche, garantem, e indica o rumo.
Elizeu, 33 anos, conta ter driblado o destino assim que começou, criança, a ouvir as histórias que a tia-avó contava para ele. Cláudio, 21, mudou a escrita que lhe parecia reservada a partir da descoberta dos movimentos sociais e do estudo, que o ajudaram também a descobrir a poesia falada, o slam, já na fase adulta.
Acabariam encontrando no projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, um dos canais para expressar a arte deles e também para colocar em ação a ideia que têm a respeito de futuro: ajudar a salvar vidas ou tirá-las de um estado “anestésico”.
Elizeu coordena uma casa de cultura, criada por ele próprio, em Porto Velho (Rondônia), que serve também de abrigo e palco para artistas de outras regiões. Cláudio é um dos organizadores das até então inéditas batalhas de poesia falada em Rio Branco (Acre).
Os dois estiveram no final do ano passado em São Paulo para participar de seminário promovido pelo projeto Reconexão. Visitaram a Fundação Perseu Abramo. Ao final da conversa, sob os estrondos dos trovões que já começavam a marcar as tardes chuvosas do verão paulistano, explicaram que os temporais que caem por aqui costumam vir lá do Norte, trazidos pelos “rios voadores”. Além de algo poética, a explicação também é científica.
Acompanhe a seguir trechos da entrevista:
Qual o tipo de trabalho que vocês desenvolvem? Como chegaram ao Reconexão?
Eliseu: Eu comecei há cinco anos com a criação da Casa de Memória para preservar a história do bairro Arigolândia, em Porto Velho. Arigôs eram os soldados da borracha. Um bairro que se iniciou no ciclo da borracha. O bairro tem essa memória muito forte ali. A casa se chama Arigóca. Eu comecei escutando as histórias, conhecendo os moradores mais antigos, e o bairro acabou se conectando bastante. As pessoas começaram a organizar os encontros. E também com as comunidades ribeirinhas, que é de onde venho. Eu nasci numa dessas comunidades e passei também a ouvir e a contar histórias. Com 14 anos eu comecei a dizer poesia. Me colocaram pra dizer em público. Eu entrei no movimento cultural da cidade muito cedo. Eu tinha tido de negar essa história quando cheguei na capital, cidade grande, metrópole assim, com carros e tudo. E essa vivência da beira do rio eu tive muita dificuldade pra lidar no início.
Você se sentiu constrangido a sublimar isso para se adaptar à vida na capital.
É, havia essa pressão. Quando eu tinha 12 anos, na escola, quando descobriram que eu tinha nascido numa dessas comunidades ribeirinhas, me perseguiam no intervalo, fazendo brincadeiras, imitando índio, me chamavam de índio como se fosse um xingamento. Então, quando eu me aproximei dos poetas da cidade, é porque eu me reconhecia nos poemas que falavam da cidade e da vida na beira do rio. Aí eu pensei ‘é perto dessa galera que eu quero ficar, eles dão valor pra isso que eu sou”. Então, há cinco anos, quando eu resolvi morar sozinho, veio essa ideia de criar a Casa da Memória.
Como você faz para a sustentação material desse projeto?
Faço saraus, vendo meus livros e faço apresentações fora do Estado. E eventos pelo Sesc, fiz apresentações da literatura amazônica pelo Peru. Vendo meus livros bem, o pessoal compra.
Esses eventos que você faz, por exemplo pelo Sesc, eles te pagam?
Salva meu ano. Eu pego uma apresentação pelo Sesc e consigo programar as contas da Casa por um ano. Você não precisar se preocupar em pagar aluguel e conta de água e luz, você já tá de boa. Então, você tem fôlego para articular muitas coisas. Quando eu fecho minha agenda de apresentações – de 2015 pra cá tem sido assim, eu tenho trabalhado bastante – eu me permito desenvolver atividades que não me pagam. Por exemplo: ir para as escolas (para projetos de incentivo à leitura), professor me procura…
A Casa de Cultura em Porto Velho abriga diversas manifestações artísticas

Créditos: Arigóca
Os professores têm te procurado?
É o que mais eu tenho trabalhado, do ano passado pra cá, é o incentivo à leitura e procurado fortalecer os professores e escolas que tentam desenvolver projetos por conta própria, me convidam pra saraus, me convidam pra oficinas, pra contação de histórias, recitar poesia, e eu proponho oficinas com os próprios professores. E também com o movimento do MST no interior do Estado. E dentro das comunidades, participar de festejos, nas vilas ribeirinhas lá, onde minha vó mora.
O que você considera a principal transformação que isso causa nas pessoas que te chamam e que têm essa experiência junto com você?
Eu acho que a gente vive numa sociedade que está em estado anestésico, né. Que nos induz a um estado de apalermamento, de idiotice. Um dos sintomas disso é a exclusão do livro, da leitura, da interpretação de texto, da escrita, da contação de histórias. Um bom leitor tem condições de questionar o mundo. Um bom leitor tem uma boa oratória, ele lida bem com as palavras, e as palavras são nossa ferramenta de comunicação principal. O livro, a oralidade, a escutação e a contação de história, o teatro, todas essas coisas têm um envolvimento muito forte com a palavra. E quando você insere isso, às vezes numa dosagem pequena, isso tem um efeito, como que eu posso dizer, contagioso. Neste ano eu estava no Rio de Janeiro e tava rolando a FLIP. Eu tinha ido num evento em Petrópolis e acabou cedo. Fiquei esperando e comentei com a galera no grupo, com o pessoal da Casa, ‘olha, tô aqui’ e eles falaram ‘pô, por que você não vai pra Parati, vai pra FLIP vender livro?’ Mas eu não tinha condição de ir. A galera juntou e fez uma vaquinha, cada um deu R$ 150 e eu tive fundo pra ir pra FLIP. Participei de saraus, vendi livros, fiz altas conexões… A galera acredita nisso, ela fala ‘esse cara vai pra lá, ele tá levando nós’. Porque eu também entrei no processo de descolonização. Então, pra mim, a leitura, a contação de história, têm um pouco disso: destravar, tirar você desse lugar.
E você, Cláudio, de onde você vem, conta um pouco sobre o seu trabalho.
Cláudio: Eu sou de Cruzeiro do Sul, mas moro em Rio Branco, no Acre. Há um ano e sete meses a gente tava reunido na praça da Princesinha e aí, eu e mais alguns amigos, a gente decidiu fazer um movimento. Fazer algo que a gente conseguisse se conectar com os jovens. Tem uma frase que eu aprendi, e que serve muito pra minha vida, que é uma frase do Frei Betto: “ A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam”. Essa frase serviu muito pra minha vida e fez eu e meus amigos começar a se movimentar. Eu moro numa periferia de Rio Branco e lá a gente vê diariamente a nossa dignidade sendo tirada, nossa autonomia sendo tirada – autonomia entre aspas, porque a gente tem pouquíssima – e cada dia que passa a gente vê amigos morrendo, amigos nossos não conseguindo entrar na escola, a gente vê a tática do sistema sendo cumprida, de ponta a ponta.
Conta um pouco alguns episódios que mostram como essa tática do sistema funciona.
Um exemplo. Nós sempre moramos muito próximos, eu e dois amigos, o Tomás e o Eduardo. Estudamos juntos desde o ensino fundamental até o ensino médio. Um morreu, levado pelo tráfico, e o outro tá preso. E nós da periferia sabemos que a tática do sistema é fazer com que a gente não se conecte com oportunidades, que a gente não consiga alcançar um estudo de qualidade. Especialmente nas escolas de periferia: eles nos ensinaram um pouquinho de português, um pouquinho de matemática, um pouquinho de cada matéria e a gente não consegue se especificar em nada, sabe, entender algo de verdade; é a educação que é dada pra gente servir de mão-de-obra. Depois do estágio que eu fiz no MST, eu aprendi muita coisa.
Slam no Acre. Claudio é o segundo, da esquerda para direita, agachado

Créditos: Cláudio Jr
Como você conheceu o MST? Como o MST te descobriu?
Eu nasci no Acre e saí do Acre bem novo. Voltei já tinha 17 anos. Foi quando eu fui estudar em Cruzeiro do Sul, quando eu conheci meu pai, eu não conhecia meu pai. E lá eu comecei a estudar Engenharia Florestal. Então eu fui pruma Bienal da UNE, lá eu consegui uma carona para ir num estágio do MST. Eu me inscrevi no estágio do MST em fevereiro de 2016, e aí eu não tinha passagem para ir pro Rio Grande do Sul. Estava saindo um ônibus do Acre pra Fortaleza, pra Bienal da UNE. Me falaram que lá na Bienal eu conseguia uma carona para ir lá pro estágio do MST no Rio Grande do Sul. Aí eu fui pra Fortaleza.
Sem ter muita certeza, foi com a cara e a coragem…
Eu não tinha nem dinheiro pra ir pra Fortaleza, fui de carona nesse ônibus que saía do Acre. Aí o dia que terminou a Bienal, era o dia 1o de fevereiro de 2017, eu fui correndo atrás de todos os ônibus, pra saber qual deles ia pra Santa Maria. Aí encontrei um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria. Mas eu não era aluno da federal de Santa Maria, então eu não podia entrar no ônibus. Aí a gente fez um contato com o reitor – devido ao estágio que eu ia fazer no MST, como o MST tem parceria com a universidade – eu consegui uma matrícula provisória na Universidade Federal de Santa Maria e aí eu consegui entrar no ônibus. Tudo isso em quatro horas. Aí fiz o estágio, o estágio foi de um mês, depois fiquei morando lá na Casa do Estudante, com uns amigos. E passei seis meses lá. E foi quando eu descobri quem eu era nesse mundo e pra que que eu vim pra esse mundo: que é pra gente tentar salvar vidas ao máximo, mesmo. E foi com esse sentimento que a gente decidiu fazer algo, que o jovem discutisse sua realidade. E a gente acompanha o slam pelo youtube, o Slam da Resistência, Slam da Guilhermina, e a gente decidiu fazer um slam no Acre. A gente nem sabia como fazer, mas vamos entrar em contato com a galera, vamos conhecer as regras.
Como a Fundação Perseu Abramo descobriu você e como se tornou o organizador da etapa Norte do Slam em Duplas?
Esse é um dos nossos maiores feitos, foi muito lindo. A gente fez contato por grupo no whatsapp, eu gosto muito de ficar pesquisando. E nesse grupo trocamos a maior ideia. E convidaram a gente para organizar a etapa Norte. E o que que aconteceu. Até 2017 o slam era muito discriminado lá no Acre. A gente fazia duas apresentações por mês. Como eles falam: “um monte de marginal reunido pra ficar falando besteira”. A polícia descia lá e a gente tentava dialogar com eles, queriam dar porrada.
E isso mudou agora?
Mudou muito. A gente organizou a etapa Norte no dia 28 de abril. A gente reuniu 16 duplas, 32 poetas, a rotatividade deu mais de 600 pessoas no local. E o mais importante foi levar uma dupla do Acre para a etapa nacional. Quando as pessoas viram que a gente mandou uma dupla pra São Paulo viram que não era mais brincadeira. Ter toda aquela estrutura lá, ter pessoas que já disputaram campeonatos no exterior, isso deu muita credibilidade pra gente, pro movimento. De abril pra cá, antes a gente que convidava pessoas pra participar do slam. Depois do Slam Nacional em Dupla, as pessoas pedem pra participar do slam. É um lugar de fala, um espaço que você tem nove minutos de fala. E duas horas de escuta. E quando você fala e nota que todos estão prestando atenção, você se sente muito confortável, você sente que importa. E isso pra nós foi muito importante.
Eu queria agora voltar pro Elizeu. Todo esse trabalho de vocês exige resistência, desprendimento. Mas chega um momento em que vocês são mais bem compreendidos. Vocês acham que agora, com os retrocessos prováveis com o futuro governo, todo esse discurso autoritário, vocês acham que o cenário muda?
Elizeu: Pois é. Eu estive agora na Cooperifa, com o Sérgio Vaz, e ele fez uma fala muito potente, na qual eu me reconheci muito. Quando eu tinha cinco anos, eu vi meu pai atirar na minha mãe. Descarregou um 38 nela. Depois com 12 anos, ele já tinha respondido por este atentado contra minha mãe alegando legítima defesa da honra, depois com 12 anos ele esfaqueou uma mulher no mesmo quarto em que eu estava dormindo com ele. Nasci numa vila ribeirinha sem água, sem energia elétrica. Depois vou pra cidade e desisto de estudar até a sétima série, porque não suportava ir para a escola, e assim, no entanto, eu enfrentei toda uma estatística pra não estar na cadeia, que era o local para onde eu estava destinado. E foi a poesia mesmo, foi o livro que nunca me deixou.
Qual o primeiro livro que você se lembra?
Minha tia lendo pra mim. Na calçada de casa, quando eu saí daquela comunidade ribeirinha e fui morar em Porto Velho com essa tia-avó que lia pra mim todo o dia. E ela lia um poema da Cecília Meirelles que era A Chácara do Chico Bolacha. Então aquilo me ensinou a magia da palavra, a sonoridade, brincar com a palavra. E isso me permitiu sempre achar a palavra algo encantado, mesmo. Quando eu aprendi a ler e escrever eu pensei: eu domino isso agora. Até então eu não tinha habilidade de nada. Isso foi algo que eu sempre carreguei. E aí o Sérgio (Vaz) falando sobre a situação que se aproxima, e que é muito preocupante mesmo, mas a gente precisa entender o nosso processo de luta, desde o início. Pra muita gente vai ficar muito mais pesado, mas, pruma grande maioria, sempre foi pesado. E eu acho pesadíssimas todas essas falas do Bolsonaro em relação a reservas indígenas, em relação a tudo assim. Se a gente já estava numa situação de sofrimento, a tendência agora é as coisas se agravarem. A gente precisa aprender com aqueles que em determinado momento na história desse país nem direito a reclamar tinham. Eles que eram escravizados mesmo. Como é que surgiram os quilombos? Quando você aprende sobre os quilombos, você pensa: ‘Caralho, eu posso fazer qualquer coisa”.
Como você imagina que possa ser aplicado esse conhecimento histórico para esse momento que se aproxima?
A gente tem que hackear. Tem que ser hacker. Quanto mais pudermos ocupar os espaços de fala, de encontro. Sabe, sem rancores. Sabendo quem são nossos parceiros, quem está com a gente, mesmo. Dizem que a periferia elegeu o Bolsonaro. Mas enquanto o Lula estava na parada, ele ganharia a eleição, a periferia ia votar nele. Foi a elite que elegeu o Bolsonaro. E jogando sujo. Essa galera vai vir pra cima. E a gente tem de ocupar os espaços, retomando a militância orgânica. Esse segundo turno exercitou muitas formas de a gente militar. Porque é muito disparate entre o discurso fascista, autoritário, e o discurso democrático. É estratégico: a gente entender o outro, e poder ressignificar símbolos. Então acho que a gente tem que fazer esse trabalho, corpo a corpo, agora parece que é manual. Parece que saímos de um carro automático e estamos num caminhão desgovernado. E esperar que essa galera (o novo governo e seus apoiadores) se engula, se trapaceie, se sabote, e a gente possa estar cada vez mais organizando a rua. Se organizando não, se encontrando na rua. Tirar esse medo das ruas das pessoas. É travar a guerrilha, a guerrilha da narrativa.
E você Cláudio, você acha que aquela visão repressora que tinha sobre o slam até um tempo atrás vai voltar?
Cláudio: O Acre é o estado que percentualmente mais deu votos pro Bolsonaro, né? Foi assustador pra nós. Eu tenho certeza que no ano que vem vai voltar, porque esse sentimento já está muito presente no Acre. O pior é que sempre há uma arma que está apontada pra nossa cabeça. E existe um dedo no gatilho. E a pessoa que está com o dedo no gatilho, a pessoa que está acima disso tudo, que é o nosso presidente, está autorizando que esse gatilho seja puxado. A gente tá no Brasil. A cada 23 minutos é morto um jovem negro no Brasil. Em gestões passadas de esquerda essa índice continuou, esse índice baixou, mas a população periférica sempre foi esmagada, mesmo em governos de esquerda. Quando você vai lá na ponta mesmo da população periférica, o Estado só entra ali com polícia. E o slam é um movimento periférico, é um movimento de pessoas pretas, de gente pobre. Tanto que no Brasil tem um grito que é o ataque poético, o grito dos favelados: “Ataque poético, poetas favelados, abra seu coração”. A maioria do slam lá no Acre é de favelado, que estão tendo um lugar de fala que nunca tiveram antes. E o governo, o sistema, vendo que aquele espaço funciona, que está crescendo, se organizando, vai entrar cerceando na raiz. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
E como você imagina possível para escapar disso, resistir?
Evitar não vai ser possível, pois acho que essa tentativa deles de esvaziar o movimento vai ser muito grande. Mas acho que é tentar evitar o máximo possível o contato com eles. E o slam, na sua forma de se organizar, reúne também advogados. É o que nos dá um respaldo também. Tem assistente social, defensor público, é algo que ajuda muito quando a polícia chega.
É importante então ter outros segmentos juntos, outros coletivos…
Extremamente. Porque eles não respeitam a gente. Eu mesmo já me apresentei a policiais como organizador do slam, mostrei que nunca fui fichado na polícia, que nunca fui preso, que faço Engenharia Florestal na Universidade Estadual do Acre, e eles assim mesmo me chamam de vagabundo.
Elizeu: Em Porto Velho eu ando pela cidade sem dinheiro. Tem foto minha em comércio, em armazém. Recentemente, em Recife conheci o filho do mestre Salustiano. Tempos depois ele foi pra Porto Velho. Eu tô tendo a oportunidade incrível de fazer pontes. 2019 já está garantido pra mim, com um contrato que fiz. Aí é captar recursos e incluir mais gente no rolê. Eu me sinto abraçado pela cidade, e não escravizado por ela. Eu sinto o Norte como um tucupi fervendo, daqui a pouco ninguém segura, no bom sentido. As pessoas vão querer ir lá porque só lá verão certas coisas, certos artistas. Conexão amazônicas e panamazônicas.
Cláudio, e você, como faz para cuidar dessa coisa da grana, do sustento?
Eu tenho nove irmãos, mas só conheço dois. Só eu que estudo. Nosso coletivo de slam recebeu duas ajudas de custo até agora. Reinvestimos na edição de slam individual estadual, que nós organizamos. O ano que vem a gente não sabe como vai ser (até dezembro de 2018, Cláudio tinha um trabalho em que ganhava R$ 1 mil de salário. Repassava R$ 400 para a mãe e o restante para despesas como aluguel etc). A maior parte do que eu ganho eu dou pra minha mãe. Quando a gente era criança ela andava 15 km para poupar os dois reais do ônibus pra gente comprar o pão. Então eu acho que isso é o mínimo que eu devo fazer.