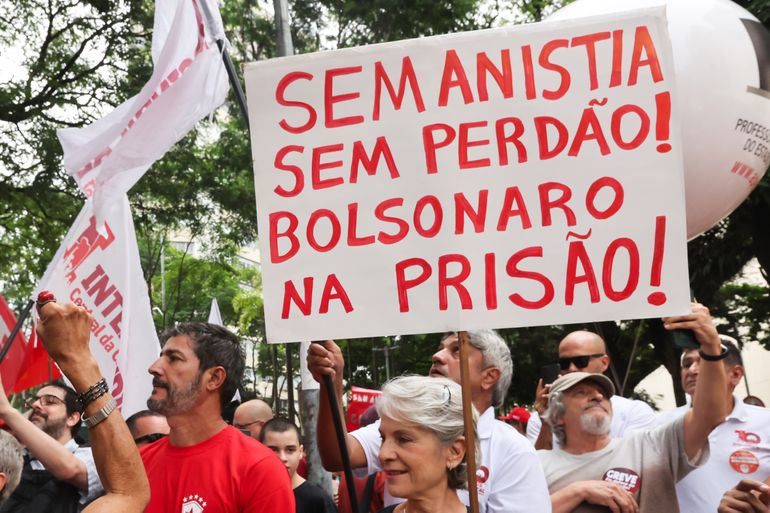O fracasso anunciado de Trump, por Marcelo Zero
Com Trump, tudo o que era aparentemente sólido desmanchou-se no ar, em um ciclone político e geopolítico

Há uma onda de perplexidade no mundo.
O governo Trump, em pouco mais de um mês de funcionamento, mergulhou o planeta em um caos de “ordens executivas” que atira para todos os lados, sem uma estratégia aparente, discernível e consistente, deixando observadores atônitos e um tanto confusos.
É difícil distinguir, à primeira vista, nessa névoa de medidas drásticas e autoritárias, objetivos racionais e factíveis de longo prazo para os interesses concretos dos EUA e, particularmente, de suas empresas. Para onde vai o capitalismo dos EUA, perguntam-se todos?
Com Trump, tudo o que era aparentemente sólido desmanchou-se no ar, em um ciclone político e geopolítico.
É preciso considerar, antes de tudo, que o segundo governo Trump surge no momento em que a ordem mundial passa por um momento delicado, imprevisível e conflitivo.
De fato, vivemos um complexo período de transição entre a antiga ordem unilateralista da Pax Americana, surgida após o colapso da União Soviética e de seu bloco, e o surgimento de um quadro internacional mais multipolar, no qual potências emergentes, como Rússia e China, especialmente esta última, ocupam espaços geoeconômicos e geopolíticos antes ocupados, de forma hegemônica quase absoluta, pelos EUA.
Também vivemos, desde o colapso financeiro de 2008, uma crise das políticas neoliberais, que além de não promoverem crescimento sustentado, na maior parte dos países, impulsionam as desigualdades de renda e de patrimônio, que voltaram aos níveis do início do século XX, corroem a coesão social, eliminam e revertem as antigas expectativas de melhorias na qualidade de vida intergeracional e promovem uma persistente erosão das democracias e dos sistemas clássicos de representação.
Em artigo recente, Piketty assinala que a luta entre democracia e oligarquia é a luta deste século, que definirá nosso futuro coletivo. Ao usar o termo oligarquia, Piketty refere-se, obviamente, à crescente e extrema concentração de renda e patrimônio do “hipercapitalismo” desregrado, o qual conduz à mencionada fragilização das
democracias. Tem ele razão.
1
Mas essa luta está indefinida. Como diria Gramsci, estamos naquele momento em que velho ainda não morreu, mas o novo ainda não se consolidou, de forma clara e definitiva.
Na realidade, com Trump vivemos uma clara conjuntura de afirmação de interesses oligárquicos, hipercapitalistas, e de fragilização da democracia, bem como de volta a um unilateralismo geopolítico exacerbado.
Como todo reacionário, Trump faz menção a um passado mítico, no qual os EUA teriam tido muito afluência e prosperidade. Um passado ao qual os EUA teriam de retroceder para serem “grandes de novo”. Hitler e Mussolini diziam a mesma coisa. Mais recentemente, Milei também repetiu a fábula do passado de glória que precisa ser retomado.
O observador mais atento já deve ter percebido que, ao falar desse passado mítico e de suposta grande afluência, Trump menciona um período que teria começado em meados do século XIX e teria terminado em 1913.
Mas qual a razão da menção a esse ano específico, 1913?
É que até esse ano a principal fonte de receita do governo dos EUA eram as tarifas e taxas de importação, as quais chegaram, em alguns momentos, à médias de cerca de 60%. Alexander Hamilton, primeiro Secretário do Tesouro dos EUA, logo advogou pela proteção da indústria do seu país, afirmando que os argumentos de Adam Smith a favor do comércio livre “embora teoricamente verdadeiros (geometrically true)’, eram ‘falsos, na prática’.
Essa política amplamente protecionista ajudou a industrializar o Norte dos EUA, embora desagradasse o Sul agrícola, que tinha de arcar com bens de capital e de consumo mais caros. Foi um dos motivos que levaram à Guerra Civil estadunidense.
Em 1913, porém, foi ratificada a décima-sexta Emenda Constitucional dos EUA, a qual introduziu o imposto de renda federal. Até então, não havia existido imposto sobre a renda nos EUA, à exceção de um curto período para cobrir os custos da guerra civil.
Os Republicanos sempre se opuseram à criação do imposto de renda. Naquele período, defendiam e praticavam, quando no governo, tarifas de importação as mais altas possíveis. Já os Democratas argumentavam que as tarifas muito altas beneficiavam os ricos, mas prejudicavam o grosso da população, que tinha de arcar com o consumo de produtos mais caros. Era necessário introduzir um imposto para os mais ricos.
Essa divisão só foi superada via Emenda Constitucional. Os conservadores Republicanos concordaram com a apresentação da Emenda porque consideraram
2
que ela jamais seria aprovada, uma vez que modificações no texto constitucional dos EUA requerem sua ratificação por três quartos dos Estados. Mas ela acabou sendo aprovada e ratificada.
Assim, por trás dessa idolatria de Trump pelas tarifas (a palavra de que mais gosta, segundo ele) parece-nos que se escondem dois grandes objetivos combinados:
1- Retomar a velha política de substituição das importações e de proteção das suas indústrias, que predominou, com nuances, até o fim da Segunda Guerra Mundial.
Trump quer que as indústrias estadunidenses voltem a produzir em território do EUA, transformando de novo seu país na fábrica do mundo e substituindo a China nesse papel. Saliente-se que, no começo da década de 1950, os EUA respondiam por mais de 60% da produção industrial do mundo. Hoje, respondem por apenas 15,9%. Já a China responde por 31,6%. Praticamente o dobro. Não se trata, por conseguinte, de meras bravatas negociadoras. Não se trata de escusas para se obter objetivos outros, como o controle do mercado de fentanil ou a contenção da imigração indocumentada. Trump realmente acredita que o protecionismo e as tarifas têm um papel fundamental a cumprir na economia estadunidense. Claro que há também a finalidade corrupta de obter lucro com as flutuações de curto prazo no mercado de capitais, com base em inside information. Mas o objetivo principal é mesmo a volta do protecionismo.
2- Superar os desafios econômicos, fiscais e sociais dos EUA sem a necessidade de aumentar o imposto de renda para os mais ricos. Ao contrário, segundo seu ponto de vista, seria necessário reduzi-lo. Como no passado mítico, tarifas de importação mais altas poderiam facilitar esse objetivo. Ou seja, as tarifas teriam também a função de reduzir o déficit e a dívida, mantando ou mesmo ampliando os privilégios milionários e os bilionários.
Trump e os Republicanos não admitem, de forma alguma, aumento de impostos, nem em âmbito interno, nem em âmbito internacional, como o Brasil sugeriu na última cúpula do G20. Ao contrário, Trump e o MAGA têm uma agenda anti impostos, principalmente de impostos para os muito ricos.
Durante o New Deal de Roosevelt, os impostos sobre os mais ricos chegavam, em certos casos, a 70%. Reagan, que tinha o mesmo mote de Trump (Make American Great Again) reduziu drasticamente, em 1986, a alíquota máxima para 28%.
3
O problema é que os Democratas apoiaram essa agenda regressiva sobre impostos. Biden, na época, votou favoravelmente à proposta de Reagan. Clinton e Obama não ousaram tocar no assunto.
Desde então, o aumento progressivo de impostos tornou-se um tema tabu, no mainstream político dos EUA. Somente Bernie Sanders e Elizabeth Warren ousaram apresentar, em 2020, um projeto que visava criar um novo New Deal (com perdão pela redundância), sustentado na sobretaxação dos bilionários. Foram derrotados, no âmbito de um Partido Democrata muito capturado por interesses privados.
É também por causa dessa agenda contra impostos e em defesa dos bilionários e milionários que Trump colocou Elon Musk, o homem mais rico do mundo, à frente do DOGE (Department of Government Efficiency), com o intuito de reduzir drasticamente os gastos públicos e o tamanho do Estado, nos EUA.
Com efeito, Musk iniciou uma vasta e brutal ofensiva, permeada por fake news absurdas, contra os gastos públicos, principalmente os feitos no exterior e os gastos sociais, e contra os próprios funcionários das agências dos EUA, tachando os, essencialmente, de parasitas e inúteis. O já tristemente famoso e-mail de Musk para os funcionários públicos demonstra um intencional tratamento degradante desses trabalhadores. Uma das primeiras medidas do DOGE e de Trump foi oferecer demissão voluntária para os cerca de 2 milhões de servidores públicos civis dos EUA.
Trump e Minsk querem cortar gastos em cerca de US$ 1 trilhão. Isso é simples loucura. Só para se ter uma ideia, o orçamento federal dos EUA foi, em 2024, de US% 6,8 trilhões. Obviamente, essa meta é impossível de ser alcançada, sem um colapso em muitos serviços públicos. Mas demonstra o caráter e a natureza do governo Trump.
Como bem definiu Bernie Sanders, parafraseando Lincoln, o governo Trump é um governo dos bilionários, pelos bilionários e para os bilionários.
Contudo, a ofensiva contra os funcionários públicos não visa apenas “economizar e cortar gastos”. Objetiva também aparelhar politicamente o Estado dos EUA, algo que já estava previsto explicitamente no Projeto 2025, da Heritage Foundation. De fato, Trump quer governar apenas com “gente leal” a ele e ao MAGA. Sua bizarra e farsesca equipe governamental evidencia essa total ausência de “republicanismo”, com perdão do trocadilho. Nem os militares do Pentágono estão escapando.
Em suma, a estratégia de Trump para enfrentar os desafios impostos pela nova ordem mundial e tentar retomar a hegemonia econômica e política dos EUA parece ser uma mistura bastante singular, do ponto de vista histórico, de nacionalismo e protecionismo econômicos, combinados com políticas neoliberais típicas, como a
4
de redução do tamanho e do papel o Estado, a diminuição acentuada dos gastos públicos, especialmente os sociais, e a manutenção ou mesmo intensificação de uma política fiscal e econômica que visa preservar inteiramente os interesses de uma parcela ínfima de bilionários e que rejeita quaisquer ações efetivas para distribuir renda, prover serviços públicos de qualidade para a população e reconstruir a classe média estadunidense.
Não obstante, isso não é tudo. A aliança clara entre Trump e as Big Techs revela também outras vertentes estratégicas.
Trump estaria fazendo uma aposta estratégica no que Yanis Varoufakis chama de “tecnofeudalismo”, o qual estaria substituindo, segundo ele (Yanis), o capitalismo clássico.
Existe uma espécie de “terra digital”, um território digital ubíquo, cada vez mais verticalizado e oligopolizado, que controla as transações econômicas e informacionais em nível global, e substitui o lucro capitalista por algo semelhante à renda fundiária que prevalecia no sistema feudal.
A Amazon, por exemplo, alega Varoufakis, não produz absolutamente nada. Ela apenas oferece seu território digital para que empresas e consumidores realizem suas transações. Em troca, ela exige um percentual sobre as transações, a sua renda referente ao uso de seu território, sua “gleba digital.” O que Varoufakis chama de cloud rent.
Mas, não se trata apenas de uma mera intermediação, de uma prestação de serviços. As grandes plataformas digitais, alega ele, dominam os mercados. Essas empresas não operam em uma lógica puramente mercadológica. Segundo Varoufakis, os usuários não são clientes no sentido clássico, mas “servos e vassalos” que geram dados para tais empresas e que dependem dessas plataformas para acessar informações, trabalho e serviços essenciais.
Como no modo de produção feudal, haveria um sistema de dominação, difuso, porém muito eficaz, que manteria os “servos” e “vassalos”na gleba de propriedade do senhor feudal digital.
O capital da nuvem, segundo ele, eliminou os dois pilares do capitalismo clássico: os mercados e os lucros.
Não que eles não existem mais. Obviamente continuam a existir. Mas não determinam mais a dinâmica da economia, que está sobreterminada pela renda da “nuvem.”
Esses “territórios digitais” contam, hoje, com uma população de cerca de cinco bilhões de pessoas, que dependem das plataformas para virtualmente todos os aspectos de suas vidas.
5
Por isso, essas empresas já têm valor de mercado na casa de US$ 1 trilhão. Trata se de uma enorme concentração econômica e tecnológica nas mãos ou nos dígitos (dedos) de muito poucos, que se reflete em um poderoso domínio político direto. Frequentemente, esses poucos, de uma única nacionalidade (estadunidense), impõem suas próprias regras, desrespeitam leis e normas de muitos países e interferem em eleições e nos processos democráticos.
A internet, as redes sociais e as poucas empresas que as dominam tornaram-se o oposto daquilo que fora imaginado, no início da popularização da rede mundial de computadores.
Com efeito, na década de 1990, o boom da internet nos países mais desenvolvidos, notadamente nos EUA, suscitou a falsa esperança de que a rede mundial de computadores, um espaço em tese neutro e democrático, propiciaria a todos os cidadãos oportunidades únicas e homogêneas para informar-se, formar-se e cooperar ativamente, de forma horizontal.
São dessa época, note-se, os principais escritos de Manuel Castells sobre a sociedade em redes, em tese não hierarquizadas e mais democráticas.
Essa utopia digital transformou-se rapidamente, porém, na distopia de um “tecno feudalismo” opressivo, ubíquo e antidemocrático.
Note-se que as Big Techs têm, há muito, uma relação umbilical com a NSA e outras agências de inteligência dos EUA. Trump, no entanto, está estreitando essa relação, dessa vez com intuitos políticos próprios e de afirmação da extrema-direita, em nível mundial.
O debate, legítimo, conceitual, sobre a categorização do tecnofeudalismo nos parece secundário, nessa análise. O ponto fulcral, é o de que essa aliança entre o MAGA e as Big Techs compõe um poderosíssimo instrumento econômico, financeiro, tecnológico, social, político e cultural, que ameaça frontalmente as democracias e a soberania dos países, e que tem potencial para realizar fortes intervenções na ordem mundial, em favor de uma nova hegemonia dos EUA.
Não obstante, a principal utilidade da aliança provavelmente se relaciona a possível solução da contradição básica da estratégia econômica de Trump. Trump ao querer reindustrializar os EUA, precisa de um dólar relativamente fraco, que estimule as exportações e dificulte as importações. Porém, isso poderia afetar o dólar como reserva de valor e sua hegemonia financeira no mundo.
Tal dilema poderia ser resolvido. segundo os estrategistas de Trump, com o estabelecimento de um fluxo financeiro das reservas internacionais em dólar (da China, da Europa, do Japão etc.) para uma mistura de criptomoedas controladas pelas fintechs e Big Techs estadunidenses.
6
Dessa maneira, o dólar poderia cair de valor, mas a hegemonia financeira dos EUA poderia ser mantida, graças às cripto moedas assentadas na renda da nuvem. Uma aposta, sem dúvida, extremamente duvidosa, sem um currency board que dê lastro a essas criptomoedas de natureza volátil.
Mesmo assim, nos parece pouco provável que essas estratégias de Trump e do MAGA para enfrentar os problemas internos do EUA e contraporem-se à consolidação de uma ordem mundial multipolar, simétrica e multilateral venham a funcionar.
Afinal, não se pode deter a passagem do tempo e as céleres mudanças geoeconômicas e geopolíticas em curso não poderão ser contidas pela ressuscitação de um passado mítico e por um protecionismo mirabolante, indiscriminado e improvisado, sem uma estratégia de longo prazo de rearranjo das cadeias produtivas.
Entretanto, Trump, nesse processo de resistência reacionária, poderá causar muitos problemas econômicos, sociais e políticos. Internos e externos. Em especial, os danos à democracia poderão ser substanciais, se não houver resposta concertada à articulação internacional da extrema-direita, turbinada pelas Big Techs.
Será necessário que haja uma reação internacional a Trump e às oligarquias “tecnofeudalistas” (Varoufakis) ou “hipercapitalistas” (Piketty) para que as democracias voltem a florescer. Isso imporá, talvez, algumas novas alianças internacionais.
Em prazo mais longo, entretanto, esse isolacionismo político e econômico dos EUA será um tiro pela culatra. A atitude hostil de Trump contra o mundo inteiro, mesmo contra aliados históricos terá, evidentemente, consequência negativas, até para muitas empresas dos EUA, já muito globalizadas. Afinal, não se promove uma nova “indústria nacional” da noite para o dia, extinguindo, subitamente, as cadeias internacionais ou regionais de produção.
Ademais, é preciso considerar que o dinheiro que os EUA perdem com déficits comerciais acaba “voltando”, em montante significativo, para os EUA, sob a forma de investimentos financeiros e diretos, que beneficiam empresas norte americanas e o próprio governo estadunidense.
No mínimo, essa antipolítica de Trump poderá contribuir para acelerar os movimentos pela desdolarização do comércio e das finanças mundiais, mesmo com a constituição da mencionadas cripto moedas, socavando, por dentro, os pilares econômicos da hegemonia geoeconômica e geopolítica dos EUA.
7
Trump, entretanto, tem pressa e faz muitas coisas improvisadamente. Possui somente mais 4 anos para deixar alguma “marca”. Pensa em “impactos” de curto prazo. Vai acabar tropeçando nos próprios pés.
Trump parece esquecer uma lição fundamental. Não há vácuo em política ou geopolítica. O “espaço” deixado por Trump na ordem mundial por seu isolacionismo, seu protecionismo exacerbado e sua brutalidade desabrida será inevitavelmente preenchido por outros atores.
Não há império que se sustente sem um mínimo de soft power.
A China, aliás, já se candidatou a liderar uma nova ordem mundial mais multipolar e simétrica. Parece evidente que o Sul Global acabará voltando-se mais intensamente para o BRICS, buscando proteção em meio à desordem mundial baseada da força bruta proposta por Trump.
Piketty escreve, no artigo já mencionado, que acima de tudo, o resto do mundo pode muito bem liderar as mudanças políticas mais progressistas nas próximas décadas.
Muito embora Piketty afirme pouco se pode esperar de “oligarquias autoritárias como China e a Rússia”, diz que dentro dos BRICS, há democracias vibrantes que representam mais eleitores do que todos os países ocidentais juntos, começando com a Índia, o Brasil e a África do Sul. Em 2024, o Brasil apoiou a ideia de um imposto global sobre a riqueza de bilionários no G20.
Piketty também afirma que “na batalha global entre democracia e oligarquia, só podemos esperar que os europeus saiam de sua letargia e desempenhem seu papel integralmente. A Europa inventou o estado de bem-estar social e a revolução social-democrata no século XX, e é ela quem mais tem a perder com o hipercapitalismo trumpista.
Em tese, isso abriria um maior espaço de cooperação entre o chamado Sul Global e a Europa. De fato, uma aliança entre as democracias do BRICS e do Sul Global e a Europa poderia produzir resultados robustos, transmutando a correlação de forças internacional.
Parece-nos, contudo, que a Europa, ou parte dela,terá de abandonar suas posições em prol de uma nova Guerra Fria e deixar de dividir o mundo, de modo artificial e inútil e maniqueísta, entre autocracias e democracias.
Afinal, nas articulações em nível internacional, o importante é estabelecer pontos de confluência em prol de um mundo mais simétrico, igualitário, socialmente justo e ambientalmente sustentável, como faz o Brasil, de forma exemplar. Fundamental, também, é não interferir na soberania e nos assuntos internos de outros países.
8
Democracia, em nível mundial, significa, essencialmente, multilateralismo e multipolaridade.
Qualquer país que deseje se agregar à criação de uma ordem mundial voltada a esses grandes objetivos tem de ser bem-vindo. Tolerância com as diferenças é fundamental. É a base da diplomacia.
Mais especificamente, parece-nos que a Europa, sem abandonar seus valores, teria de rever suas desconfianças e hostilidades referentes à China, à Rússia e a outros membros dos BRICS.
A Europa não deveria investir em um conflito com a Rússia. Em sentido contrário, deveria se empenhar em acabar de vez com a guerra na Ucrânia, com uma paz realista. A ideia de que a Rússia representa uma ameaça imperial à Europa não parece ter fundamento na realidade.
Jeffrey Sachs argumenta, com razão, que o Ocidente perdeu várias oportunidades para estabelecer laços fortes de cooperação pacífica com a Rússia. No entanto, as tentativas de aproximação da Rússia para o Ocidente sempre foram, em última instância, rejeitadas.
Em vez de investir tanto em armamentos e na obsoleta Otan, a Europa deveria investir mais em parcerias com a Rússia, num jogo de “ganha-ganha”. Sobretudo, é possível e necessário negociar com clareza, os novos espaços de influência, inseri los em tratados vinculantes e respeitá-los. O mesmo poderia ser feito com a China, país que toma cuidado extremo em não interferir nos assuntos de quaisquer países.
Precisamos de uma nova reunião de Yalta.
O Brasil, na presidência do BRICS, poderá contribuir com esse processo para a criação de uma ordem mundial mais inclusiva e simétrica, em sentido oposto à ordem “hobbesiana” e desigual que Trump intenta impor ao resto mundo
Todos teriam muito a lucrar, e nada a perder, com negociações, paz, multilateralidade e investimentos na igualdade entre os países e entre os povos.
Afinal, o que está acontecendo agora, sob novas roupagens e formas, é o que sempre aconteceu nas últimas décadas: as oligarquias e os muito ricos, mergulhados numa insana desigualdade, não querem ceder seus privilégios e o Império, mergulhando sua cabeça de avestruz no solo digital, não quer perder sua antiga e absoluta hegemonia.
Nem os EUA e nem o mundo terão futuro com Trump.
Só seremos grandes e prósperos, se os nossos povos forem também grandes e prósperos.
9
A pior paz sempre será melhor do que qualquer guerra. E qualquer negociação é mais inteligente que o uso da força bruta.