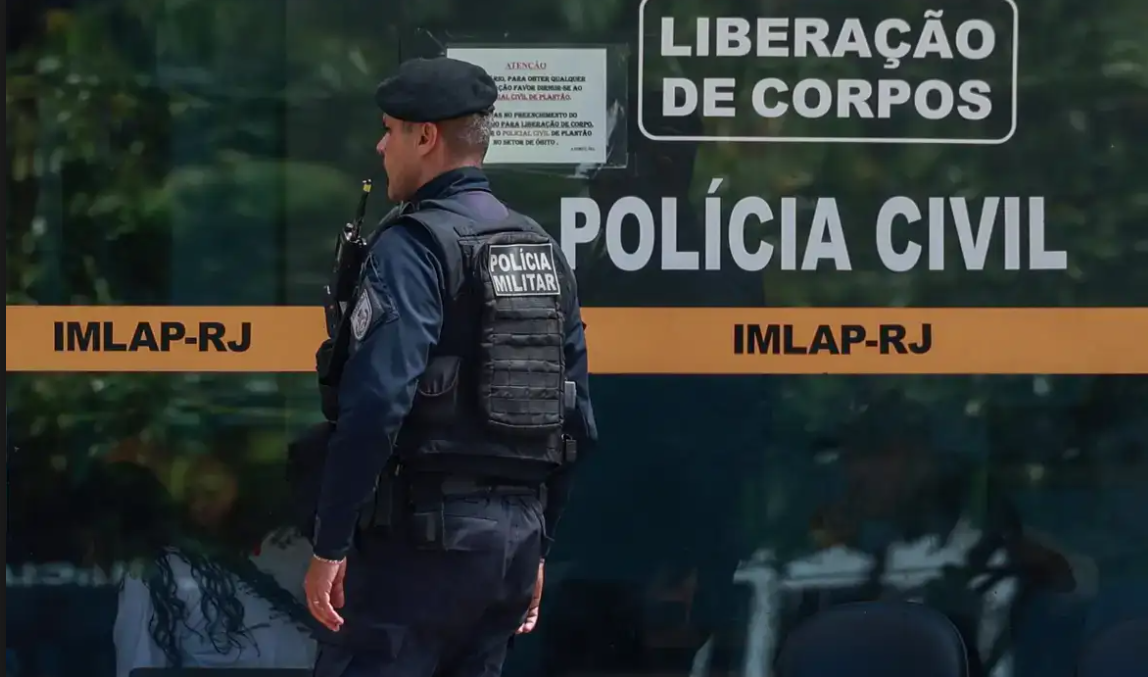A política por trás da política de morte de Cláudio Castro, por Barbara Martins, Paulo Ramos e Ruan Bernardo
Em artigo, Paulo Cesar Ramos, Ruan Berbardo e Barbara Martins e equipe do Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, analisam como a violência policial no Rio de Janeiro se converteu em instrumento político de poder e visibilidade para Cláudio Castro e a extrema-direita

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Dentro de qualquer processo político conflituoso, grupos em desvantagem recorrem à demonstração de força para se manter no jogo. É o que fazem trabalhadores em greve ao ocupar fábricas, estudantes ao tomar reitorias ou movimentos sem-teto ao fechar ruas. Em 28 de outubro de 2025, o que se viu no Rio de Janeiro foi uma demonstração de força do bolsonarismo, acuado e em retração, que precisou transformar uma operação policial em espetáculo para sair das cordas e continuar com peças no tabuleiro para as eleições de 2026, jogando na área da segurança pública e apresentando um novo pré-candidato: Cláudio Castro.
Historicamente, o Brasil já assistiu a operações de segurança sendo utilizadas como ferramentas de impacto político. Por exemplo, durante as eleições presidenciais de 1994, o aumento na ação policial no Rio de Janeiro foi interpretado como um ponto crítico na corrida eleitoral, amplamente explorado para demonstrar controle e força por determinados candidatos. Outro caso notório ocorreu em 2010, quando uma operação que culminou na ocupação do Complexo do Alemão foi vista como um divisor de águas na percepção pública sobre a segurança, influenciando o debate eleitoral.
Assim, o uso de chacinas em operações policiais como demonstração de força não é um caminho novo para os governantes fluminenses nem tampouco para o atual governador Cláudio Castro. Desde sua primeira semana no cargo, iniciada em 1º de maio de 2021, reafirmar o poder estatal por meio do extermínio de corpos negros, pobres e periféricos tem sido uma das principais estratégias de visibilidade de seu governo.
Exemplos marcantes dessa política são a operação realizada em 6 de maio de 2021, que resultou na chacina do Jacarezinho, com 28 vítimas fatais, e a operação de 24 de maio de 2022, responsável pela chacina da Vila Cruzeiro, com 25 mortos. Até então, essas eram duas das maiores chacinas recentes já noticiadas — números que, no entanto, parecem pouco diante do episódio ocorrido na última terça-feira e dos próximos que estão por vir.
A Fundação Perseu Abramo tem mostrado, em suas pesquisas sobre chacinas, que operações policiais desse tipo cumprem uma função ritual. Entre as principais motivações das chacinas, há aquelas associadas ao policiamento: as operações, atuação policial, milícias e grupos de extermínio. Essas chacinas, de forma geral, não buscam resultados de uma política pública, mas sim efeitos simbólicos. Elas funcionam como encenações da força e da virilidade de um Estado que exerce o poder de decidir quem vive e quem morre.
Nesse teatro de horrores, vidas de pobres negros, jovens e periféricos são oferecidos como prova material de autoridade e a matança torna-se uma linguagem — e o número de mortos, uma métrica de poder que, segundo a pesquisa Chacinas e a politização das morte no Brasil, mostra-se como fundamental dado que em casos de operações policiais há uma média de nove vítimas fatais por caso, o dobro das demais ocorrências por policiamento e, entre essas, 83% das que tiveram a raça/cor identificada são pessoas negras.
Os policiais estão inseridos em uma lógica em que o controle político pela morte pode ser reproduzido tanto dentro quanto fora do horário de serviço. Ainda segundo a pesquisa Chacinas e a politização das mortes no Brasil, entre as chacinas mapeadas no período de 2011 a 2022, 55% ocorreram durante o serviço e 45% fora dele — o que evidencia a naturalização desses eventos, tanto por parte de quem governa quanto de quem executa a política de segurança pública.
No caso do Rio de Janeiro, o palco foi montado com os corpos de moradores das favelas do Alemão e da Penha. As mortes, mais uma vez, só importam em quantidade: precisam chocar, gerar manchetes, devolver visibilidade aos seus promotores. Diante de sucessivas derrotas políticas, a extrema-direita brasileira recorre à necropolítica como tática de sobrevivência. É pela violência sobre as vidas negras que ela reafirma sua existência. Matar pobres e negros é a forma que a direita encontra para recuperar importância — e, ao mesmo tempo, reeditar o mito da guerra às drogas, mascarando o vazio de qualquer projeto de país.
Essa violência também se entrelaça com a precarização social crescente, em que a austeridade, o desemprego e os cortes sociais intensificam a insegurança material das populações marginalizadas, transformando a própria sobrevivência dessas comunidades em uma luta diária.
Ao transformar a morte em manchete, o bolsonarismo ganha tempo de televisão, espaço nos jornais e um simulacro de protagonismo. A operação torna-se, então, uma oportunidade para colocar novamente em circulação a sua agenda de barbárie disfarçada de defesa da ordem e da segurança, instrumentalizando as forças policiais para ocupar o noticiário e pautar o debate público.
O Rio de Janeiro, vitrine do Brasil para o mundo, é o cenário ideal para esse teatro. No mesmo momento em que o governo Lula colhe vitórias na política internacional e recupera os índices de aprovação, a extrema direita utiliza o território fluminense como contraplano: ergue, sobre corpos negros, a imagem de um país desgovernado. Quer dizer, do alto de um palco banhado em sangue, que o presidente não tem política de segurança, que o Estado “falhou”, que só a repressão resolve.
Essa ação configurou um massacre de grande proporção, e como toda chacina, houve graves violações de direitos humanos e afrontou diversos princípios do Estado de Direito ao ceifar tantas vidas sem o devido processo e sem respeito à dignidade inerente a cada pessoa.
A Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê que constitui crime de responsabilidade do governador qualquer ato que atente contra “o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais” e incluem atentados contra “a segurança interna do Estado” e o não cumprimento de leis ou decisões judiciais. Uma vez que o Governador do Estado é o garantidor último da legalidade das ações policiais, autorizar uma operação que resulta em centenas de mortes – violando possíveis preceitos fundamentais – pode configurar atentado aos direitos à vida e à segurança da população, além de descumprimento judicial, incluindo crime de responsabilidade. No Estado Democrático de Direito, não há espaço para “licença para matar” — nenhum objetivo, ainda que legítimo, autoriza o sacrifício indiscriminado de vidas e de garantias constitucionais.
Nada disso seria possível sem a disposição do governador Cláudio Castro, cuja ambição ultrapassa os limites legais e as fronteiras estaduais. Nenhum Plano Nacional de Segurança Pública, nenhuma decisão do Supremo, nenhuma ADPF das Favelas impediram a execução da operação mais letal em 15 anos. É assim que funciona a necropolítica: para além da lei, sustentada pela conveniência, pela disputa interna da direita e pela necessidade de produzir um novo candidato. Com Tarcísio fragilizado, Ratinho desacreditado e Caiado cansado, Castro vislumbra, no sangue derramado, sua chance de se projetar como presidenciável. A violência se converte em marketing eleitoral.
Frente a isso, o Governo Lula pode dar exemplo e promover uma inflexão na política que poupe a vida dos policiais, que evite o confronto e prime pela inteligência, como apontou o secretário de Justiça da Bahia, Felipe Freitas, em entrevista à Revista Focus. Reafirmamos a necessidade de uma política de segurança construída com as periferias, e não contra elas: uma política que substitua o ritual da morte pelo direito à vida, e que retire das mãos dos mercadores do medo o monopólio da narrativa sobre o futuro do país.
Paulo Cesar Ramos, coordenador do Reconexão Periferias
Ruan Bernardo, assistente de pesquisa
Barbara Martins, coordenadora do eixo de violência
Equipe Reconexão Periferias