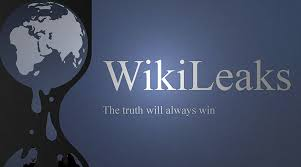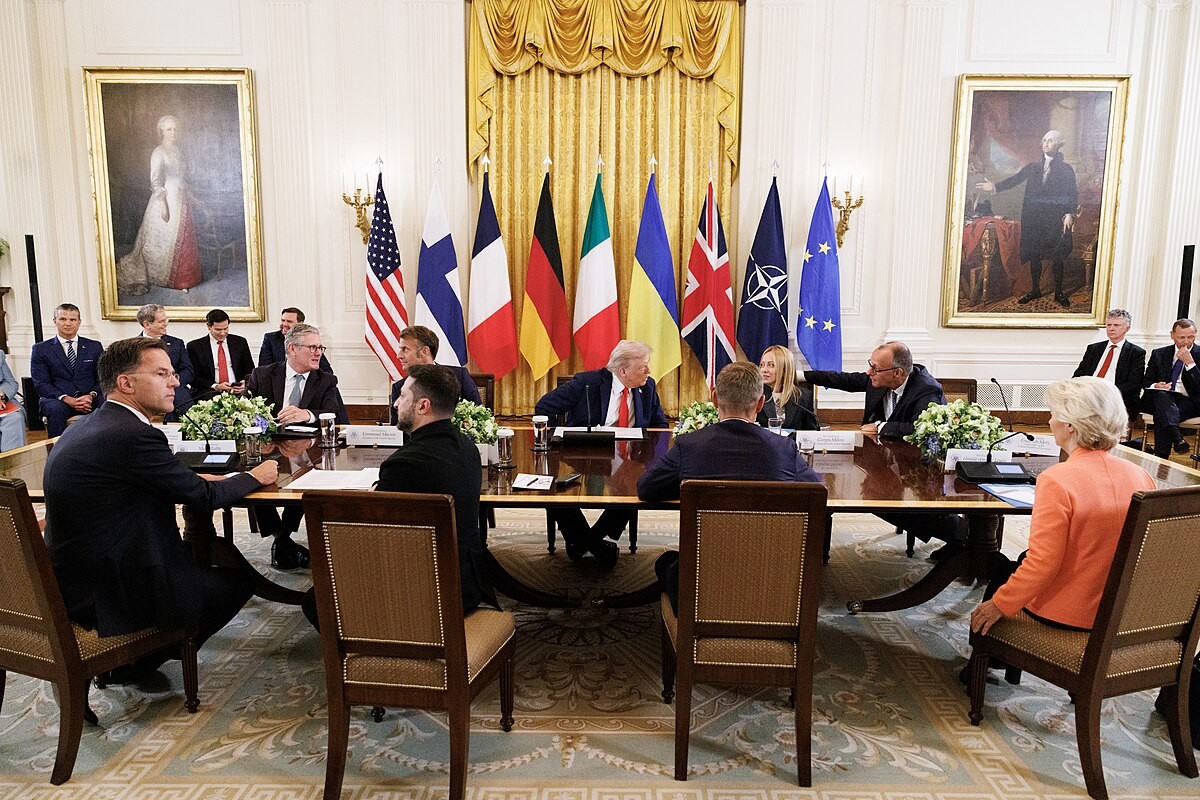Os EUA com Trump 2.0 e a China, por Giorgio Romano Schutte
Apesar das acirradas divisões políticas internas, o que une as diversas forças nos EUA é o objetivo de barrar a ascensão chinesa

Desde que venceu de forma expressiva as eleições, Trump vem testando até onde seu poder de intimidação pode alcançar. Nem sempre fica claro qual é o objetivo, além de demonstrar que os EUA ainda têm capacidade de impor sua vontade ao mundo. O maior desafio é a China e, ao mesmo tempo, a relação entre os dois gigantes repercute em muitos outros tabuleiros, como demonstrou, por exemplo, a retirada do Panamá da iniciativa chinesa Cinturão e Rota — um gesto do governo panamenho para acalmar os ânimos sobre o controle do Canal do Panamá.
Em 2011, o então presidente Barack Obama (2009-2017) alertou, em seu Discurso à Nação, para um novo momento Sputnik, em referência ao choque que percorreu os EUA na década de 1950, quando se percebeu que a União Soviética tinha supremacia na tecnologia espacial. Na época, os EUA reagiram com uma mobilização nacional que culminou no projeto Apollo, cujo principal objetivo era demonstrar ao mundo a liderança dos Estados Unidos.
Obama quis alertar que a China não era mais apenas um país de produção com mão de obra barata, mas estava se tornando uma potência industrial e tecnológica. No entanto, ele próprio conseguiu reagir pouco, em parte por estar muito preso às guerras no Iraque e no Afeganistão, apesar de ter anunciado o “giro para a Ásia”.
Ou seja, desde o início da década de 2010, apesar das acirradas divisões políticas internas, o que une as diversas forças nos EUA é o objetivo de barrar a ascensão chinesa. As diferenças residem nas estratégias e táticas a serem aplicadas, bem como nas narrativas a serem utilizadas.
O primeiro governo de Donald Trump tentou conter a China por meio da famosa “guerra comercial”. O objetivo era obrigá-la a fazer concessões e provocar uma mudança de rumo na mesa de negociação, a exemplo do que Ronald Reagan (1981-1989) fez com sucesso em relação ao Japão em meados da década de 1980. Trump acreditava ter avançado com a conclusão da chamada “fase 1” da negociação em janeiro de 2020, mas a pandemia interrompeu o processo.
Joe Biden (2021-2025) não abandonou a política de sanções tecnológicas: ao contrário, a aprofundou. No entanto, compreendeu que enfrentar o desafio da China exigia o reconhecimento das fragilidades internas e, aproveitando a recuperação pós-Covid, lançou um novo ciclo de políticas industriais e tecnológicas. Para que essa estratégia tivesse sucesso, porém, seria necessário romper de forma drástica com os interesses financeiros e a lógica neoliberal que dominavam os EUA desde o início da década de 1980. Faltou determinação até mesmo dentro de seu próprio partido e, sem a liderança necessária, essa estratégia ficou pelo meio do caminho.
Enquanto isso, tornou-se cada vez mais evidente que as sanções e outras medidas para negar à China o acesso à tecnologia apenas reforçariam a determinação do país asiático em avançar no desenvolvimento tecnológico com inovação endógena. Em paralelo, seu crescimento econômico tem sido acompanhado por um aumento expressivo de sua influência política no mundo, especialmente nos países do Sul Global.
Agora, com Trump de volta ao poder — mais agressivo e com maior apoio político —, é impossível prever como ele pretende moldar a relação com a China e em que situação essa relação estará quando ele deixar a presidência. No entanto, a China não esperou para ver: preparou-se ao longo dos últimos anos e tornou-se muito mais resiliente, seguindo o que seu presidente, Xi Jinping, chamou de “estratégia de dupla circulação”, que pode ser entendida como “queremos a paz, mas estamos preparados para a guerra”. A China defende a integração econômica, com livre comércio e movimentação de capitais produtivos (o círculo externo), mas, ao mesmo tempo, fortaleceu sua capacidade tecnológica e militar para garantir estabilidade e crescimento mesmo em situações adversas e diante de tentativas de sanções (o círculo interno).
Além disso, desde a experiência com o primeiro governo Trump, a China fortaleceu significativamente suas linhas de defesa, tornando-as hoje muito mais robustas do que naquela época. Diante da imposição de tarifas de 10% sobre as importações chinesas, antes de fazer qualquer concessão, reagiu em várias frentes simultaneamente: impôs tarifas seletivas de 10% a 15%; estabeleceu restrições à exportação de alguns minerais estratégicos de que os EUA precisam para suas indústrias tecnológica e de defesa; incluiu algumas empresas estadunidenses em uma lista de companhias a serem sancionadas; e abriu um processo antimonopólio contra o Google. Por fim, denunciou os EUA na Organização Mundial do Comércio.
É impossível prever como Trump reagirá ao perceber que a China não se curvará aos seus caprichos e que, apesar de toda a retórica, muitas empresas estadunidenses — inclusive as de Elon Musk — mantêm seus investimentos no país. O que se pode afirmar com bastante certeza é que a China ganha capital político e/ou reduz resistências em países que estão sendo vítimas do bullying de Trump — e essa lista cresce a cada dia.
Giorgio Romano Schutte é Professor Associado em Relações Internacionais e Economia Política Mundial da UFABC, membro do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil (OPEB) e bolsista produtividade CNPq.