Programa de Governo – Questão Agrária
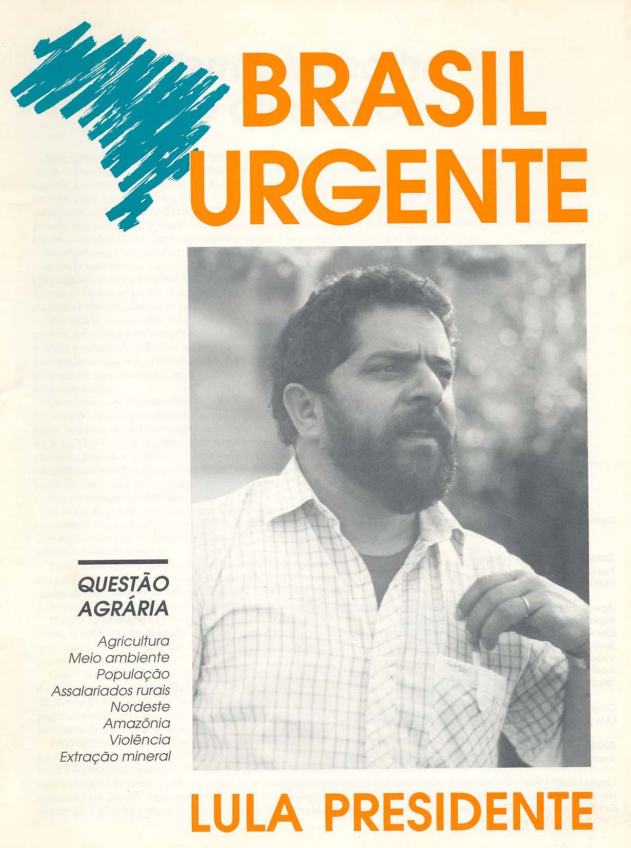
O resto é perfumaria e jogo de cena. Essa política reflete o beco sem saída em que nossas elites se colocaram. Nele, aprisionaram um imenso país. O curto prazo não pode mais reinar de forma soberana, impondo decisões que afetarão para sempre nossa geografia, nosso estoque de recursos estratégicos, a distribuição da população e o ambiente. É preciso pensar no futuro e começar a
mudar desde já.
IMPACTOS AMBIENTAIS
O pacote tecnológico que se difundiu em certos setores da agricultura brasileira a partir dos anos 60 é intensivo em capital e energia. O uso de híbridos e de variedades melhoradas, de alta produtividade, abriu caminho para o consumo em grande escala de adubos químicos e pesticidas, enquanto a motomecanização e a irrigação foram fortemente estimuladas. O modelo, que reforçou a concentração da propriedade, do acesso a recursos financeiros e do aconselhamento técnico, resultou no estímulo às monoculturas, que hoje ocupam imensa porção do território nacional.
Esse modelo – que põe agricultura em estreita dependência do setor industrial e é poupador de mão-de-obra – nasceu nos países industrializados, em especial os Estados Unidos, e foi trazido para o Terceiro Mundo sob o nome enganoso de “revolução verde”. A transferência da tecnologia foi feita por institutos internacionais de pesquisa agronômica, firmas multinacionais e organismos
bilaterais de promoção do desenvolvimento e de “cooperação” entre os países do Primeiro Mundo e o governo militar brasileiro.
Nos países de origem o pacote tecnológico teve efeitos como erosão e poluição, causando desequilíbrios. Nada que se compare, no entanto, aos danos ecológicos que decorreram da exportação desse modelo para ecossistemas distintos (e muitas vezes mais frágeis) por todo o Terceiro Mundo. O regime de chuvas, a composição dos solos, o ciclo hídrico, a insolação, o tipo de fauna e flora e as demais condições ambientais dos países temperados – onde a tecnologia foi criada e testada – não se repetem nos trópicos. Os resultados foram arrasadores. No Brasil, gigantescos desmatamentos por queimada e o uso de tratores de esteira expuseram solos à erosão causada pelo vento e a chuva, com a perda, em poucos anos, de imensas áreas aptas para a lavoura. Mudanças
climáticas são perceptíveis em várias regiões, verificando-se processos de desertificação até no Rio Grande do Sul. A importação de tecnologias inadequadas vem ocasionando problema de salinização em solos irrigados, especialmente no Nordeste.
Nos últimos 30 anos, o país literalmente queimou parte considerável do seu capital natural. Foram destruídos os banhados e campos do Sul, as florestas de araucária do Paraná e de Santa Catarina, a mata atlântica entre São Paulo e Bahia e os cerrados do Centro-Oeste. Agora, chegamos às últimas fronteiras: Pantanal e Amazônia. Dos nossos ecossistemas notáveis, apenas mangues e restingas não foram destruídos pelo avanço da agricultura e da pecuária, mas estão ameaçados por outros agentes, principalmente a especulação imobiliária.
Foram milhares as espécies eliminadas antes mesmo de serem bem conhecidas. Nesse contexto, as áreas que permanecem pouco acessíveis ou foram mantidas como reservas assumem valor inestimável, como bancos genéticos e fontes de conhecimento.
É bem conhecido o processo de fragilização das regiões ocupadas por monoculturas. Numa área qualquer, quanto maior o número de espécies e de ligações entre elas, maior a tendência ao equilíbrio. Ou seja: quanto mais complexos, mais estáveis são os ecossistemas. É instável todo o sistema passível de ser globalmente afetado pela variação na quantidade de uma única espécie,
ou de poucas delas.
A agricultura nada mais é do que o aproveitamento, pelo homem, de espécies vegetais adaptadas a ambientes temporários e instáveis: são elas que apresentam crescimento rápido e não desenvolvem estruturas maciças. Ao derrubar matas para instalar a agricultura, o homem remove sistemas biológicos complexos, multiestruturados, extremamente diversificados e estáveis. Coloca em seu lugar sistemas simples e instáveis. Passam a existir algumas espécies onde antes existiam centenas ou mesmo milhares. Reduzindo a diversidade e recobrindo vastas áreas com plantas iguais ou muito semelhantes entre si (monoculturas), o homem favorece a reprodução de certos herbívoros que, enfrentando poucos competidores, tendem a constituir populações numerosas.
Ocorrem flutuações drásticas em populações, com o surgimento de pragas capazes de alterar todo o precário equilíbrio e, em muitos casos, destruir as culturas.
Para estabilizar o ecossistema em uma situação tão diferente da que existe na natureza local é preciso interferir nele de forma permanente, aplicando muitos insumos e consumindo muita energia. O abuso dos métodos químicos de controle simplifica ainda mais o sistema e, no momento seguinte, reduz sua estabilidade, favorecendo novas erupções de pragas, cada vez mais fortes e freqüentes. Com o tempo, diminui a eficácia do controle químico abusivo. Algumas espécies desenvolvem resistência à ação dos agrotóxicos, tornando pouco eficazes as dosagens até então consideradas normais. A capacidade de reprodução das pragas aumenta, pois os níveis populacionais ficam muito baixos e os predadores em geral, organismos mais complexos – demoram mais a se multiplicar. Por fim, há o problema da contaminação: os sistemas físicos (atmosfera, solo, águas) tendem a dispersar os produtos tóxicos, mas os sistemas biológicos (organismos vivos) tendem a concentrá-los. Entrando na seqüência de encadeamentos alimentares, os venenos se acumulam nos tecidos e atingem seus maiores níveis quando se chega ao topo da cadeia, que é o próprio homem.
O problema, entre nós, é grave: em 1988, o mercado nacional de agrotóxicos foi o quarto maior do mundo, atingindo a cifra de 1,1 bilhão de dólares. Até hoje as autoridades brasileiras aceitam produtos banidos de outros países; vendem-se, sem restrições, substâncias proibidas; usam-se, fora dos padrões, venenos perigosos. E pouco se conhece sobre as conseqüências: acidentes e casos de intoxicação são acompanhados de forma assistemática; existem apenas pistas – muito preocupantes – sobre os níveis de contaminação de alimentos; falta um centro de referência que defina padrões analíticos aceitos em todo o país. A legislação federal sobre o assunto, datada de 1934, só agora está em vias de adaptar-se à s mudanças tecnológicas.
Apesar do esforço de técnicos da Embrapa e de algumas instituições estaduais, o pacote tecnológico da agricultura também é para nós, em grande medida, uma “caixa-preta” que ainda precisamos desvendar.
EXPORTAÇÃO E CONSUMO
Nas culturas de exportação e nos produtos destinados à agroindústria de transformação a produção aumentou. É duvidoso, no entanto, se esse aumento resultou da modernização ou da mera expansão da área cultivada, que foi enorme: apenas na década de 1970, foram incorporados às propriedades rurais 75 milhões de novos hectares, avançando-se fortemente sobre a fronteira agrícola. O modelo era frágil. Ele certamente provocou aumento na produção por hectare cultivado, mas isso se deu à s custas de aumentos de gastos (de capital e energia) nem sempre racionais. Não é líquido e certo que a produtividade global do sistema tenha efetivamente aumentado. A crise dos anos 80 foi marcada pela retirada dos subsídios para algumas culturas e o dramático aumento nos preços do petróleo e derivados. Os custos de produção do setor moderno cresceram de forma incontrolável, criando dificuldades adicionais para o pequeno proprietário, produzindo forte impacto inflacionário e prejudicando a competitividade dos produtos de exportação.
A dependência crescente da agricultura brasileira em relação aos mercados externos tornou-a mais vulnerável à oscilação dos preços internacionais. Em 1988, os produtos de origem agrícola representavam cerca de 40% da receita total das exportações, usada para gerar os dólares que pagam o serviço da dívida externa. A contribuição do setor agrícola se dá, sobretudo, pelo aumento da quantidade exportada, já que com exceção da soja e do suco de laranja – seus preços vêm sofrendo acentuada queda no mercado internacional. Criou-se um círculo vicioso: para compensar a diminuição no valor das exportações, o governo estimula fortemente o aumento dos volumes exportados. Beneficia os exportadores com subsídios e isenções fiscais que permitem manter a rentabilidade sem elevar os preços, mesmo quando as condições ficam desfavoráveis. Nesse quadro, a receita gerada com as exportações nada mais representa senão a doação de trabalho e recursos brasileiros para o exterior.
Para exportar mais, consome-se menos aqui. As culturas de alimentos básicos ficaram à margem do apoio estatal e, em muitos casos, foram substituídas por produtos mais “nobres”. Ali onde a implantação do novo modelo se estendeu à produção de alimentos (como ocorreu com o arroz no Planalto Central e no Sul), o aumento dos custos foi totalmente repassado para os preços, sem que o governo tomasse medidas semelhantes àquelas adotadas para sustentar a exportação.
Nos últimos anos, os alimentos subiram mais do que a média da inflação, com graves conseqüências sobre os padrões nutricionais da nossa população. Como mostra a figura 6, só em grãos e farelo de soja passamos a exportar uma quantidade de proteínas equivalente a mais ou menos o dobro das necessidades protéicas de toda a população brasileira.
O impacto social da aplicação desse modelo no campo foi brutal. Mantendo-se muita terra em poucas mãos, a modernização só podia resultar em expulsão do homem do campo. A tendência à concentração da propriedade foi acentuada e exacerbada pelo uso especulativo da terra: afinal, a mera propriedade permitia captar recursos baratos, na forma de crédito subsidiado pelo governo, muitas vezes desviado para o mercado financeiro ou para a compra de novas terras.
Milhões de pequenos agricultores foram “deslocados”. Transferiram-se para áreas de pior qualidade, para a fronteira (onde a grilagem os marginalizou) ou para as grandes cidades, onde foram engrossar as massas de desempregados ou subempregados. O pequeno agricultor que conseguiu fixar-se nas terras piores também pagou o seu preço: tornou-se mais vulnerável a fenômenos climáticos adversos e viu piorar seu padrão alimentar e de renda.
Com a mudança na base técnica da agricultura, alteraram-se o processo de produção e as relações de emprego. O nível de mecanização aumentou – particularmente na produção de grãos exportáveis – ao mesmo tempo em que se recriaram relações de trabalho extremamente atrasadas e se mantiveram regiões inteiras marginalizadas. Caiu ou estagnou a oferta de empregos permanentes e tende a aumentar o número de assalariados temporários (volantes), que buscam trabalho de fazenda em fazenda, em turmas organizadas por empreiteiros de mão-de-obra (os “gatos”). Sem conseguir estabelecer vínculos formais de emprego, esses trabalhadores tendem a engrossar as correntes migratórias, que cresceram a ponto de modificar anarquicamente a distribuição espacial da população brasileira. É o que veremos agora.
O conflito entre garimpos e empresas de mineração reflete a ausência de uma política mineral que efetivamente norteie o setor. Os garimpos têm várias faces, conforme a região onde estão, o bem mineral que exploram, a tecnologia que empregam e as relações de produção que encerram. Na verdade, também há neles uma divisão nítida entre fortes e fracos, grandes e pequenos. Estão na pior situação os diaristas, assemelhados aos bóias-frias da agricultura. É grave o impacto ambiental dessa atividade: o mercúrio é usado na proporção de dois para um em relação à quantidade de ouro apurada. Altamente tóxico, capaz de causar males genéticos, é grave ameaça aos próprios garimpeiros, à fauna e à população em geral. Só no rio Madeira, operam atualmente cerca de 30 mil
balsas, todas elas utilizando mercúrio. O volume total lançado nos rios do Pará foi estimado em 24 mil toneladas em 1988.
O controle dos recursos naturais pela União e a adoção de uma política de desenvolvimento tecnológico são nossas premissas fundamentais. Não haverá maiores concessões a multinacionais, subsídios ao capital privado, incentivos fiscais e todo o arsenal de repasses de recursos públicos para o setor privado.
Nosso governo vai reavaliar o andamento do Projeto Carajás e dos demais grandes projetos minero-metalúrgicos que envolvem o investimento de grandes somas, afetam profundamente o meio ambiente, geram proporcionalmente poucos empregos e são voltados exclusivamente para o mercado externo. As exportações a preços aviltantes terminam por mandar para fora, indiretamente,
recursos brasileiros investidos em energia, transportes e outras obras de infra-estrutura que dão suporte à extração mineral. Em consonância com nossa política econômica, exposta no primeiro fascículo desta série, será dada especial atenção a três recursos hoje subutilizados: água de subsolo (especialmente no Nordeste), minerais necessários à produção de fertilizantes e materiais básicos para a construção civil. O primeiro caso não precisa ser detalhado aqui. Quanto aos fertilizantes, a indústria que temos hoje oferece produtos pouco apropriados para uma parte dos solos brasileiros. Será preciso intenso esforço de pesquisa para compatibilizar os produtos com as nossas condições ambientais e desenvolver tecnologias de beneficiamento mais adequadas às reservas de fosfato localizadas principalmente no Brasil Central.
Em paralelo, como suporte de uma política habitacional ousada e ampla, será preciso quebrar o poder de grandes empresas que manipulam quantidades e preços da areia, brita, calcário para cimento e argila, materiais que o Brasil tem em abundância.
Assim como não se pode falar em apenas um padrão agrícola brasileiro, também não se pode propor um único padrão de reforma agrária para todo o país. Não propomos o retalhamento indiscriminado de terras, inclusive porque há diversas culturas e situações em que a divisão não é recomendável. As condições em que se encontram a produção e os trabalhadores rurais em
cada região devem determinar o estatuto das novas unidades produtivas, aparecendo a propriedade familiar, a multifamiliar e a cooperativa como alternativas viáveis. Respeitaremos a vontade dos trabalhadores organizados, estimulando sua autodeterminação e seu controle direto sobre o processo de mudança. Serão assentados de preferência os trabalhadores da região desapropriada, evitando-se deslocamentos. A ocupação se fará no âmbito de processos coletivos e organizados, para garantir maiores ganhos econômicos, sociais e de consciência e impedir a depredação do ambiente. Os assentamentos serão integrados em políticas de apoio que beneficiem o conjunto dos pequenos produtores da área.
12. Criaremos um fórum nacional que, dotado de inquestionável legitimidade, encaminhe ampla discussão sobre a Amazônia, passando a exercer influência decisiva sobre a estratégia de ocupação e sobre a avaliação de obras que Resoluções de Encontros e Congressos & Programas de Governo Partido dos Trabalhadores (www.pt.org.br) / Fundação Perseu Abramo (www.fpabramo.org.br)
tenham apreciável impacto social e ambiental. Proporemos um cuidadoso zoneamento ecológico e sócio-econômico das diversas regiões naturais da Amazônia, de modo a definir suas aptidões, demarcar áreas de preservação permanente e criar nas demais as premissas para uma ocupação sustentada em longo prazo, que respeite a floresta e os modos de vida e de produção dos
povos que ali vivem. Suspenderemos a política de incentivos fiscais e faremos auditoria nos financiamentos e vantagens concedidos, cancelando os projetos que resultem em desmatamentos extensivos. Demarcaremos as terras indígenas e implantaremos as reservas extrativistas, apoiando a formação de cooperativas para beneficiamento da borracha, castanha, óleos e essências
vegetais, de forma compatível com a preservação da ecologia regional.
Implantaremos rígido controle da extração de madeira e do uso do carvão vegetal, suspendendo a utilização industrial desse energético quando proveniente da floresta nativa. Em paralelo à reforma agrária e à política econômica de pleno emprego, desestimularemos o fluxo de trabalhadores para o garimpo, atividade que deve ser reorganizada com a formação de cooperativas, micro e pequenas empresas, capazes de absorver novas tecnologias não poluentes. Como dissemos no primeiro fascículo desta série, reavaliaremos o Projeto 2010 da Eletrobrás e a política mineral (incluindo o Programa Carajás), tendo em vista os interesses regionais e nacionais.